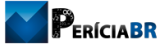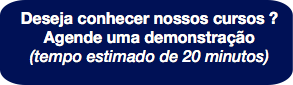Juros em Doze Pontos

Por Pio Giovani Dresch
APRESENTAÇÃO
Juros não são uma matéria apaixonante, e entre os juízes é conhecida a aversão a julgar demandas que envolvam contratos bancários.
Sobre eles nunca me preocupei em saber mais do que me exigia a atividade jurisdicional, na qual, ao menos nesse ponto, não é necessário criar muito, porque, tratando-se de matéria recorrente, basta aderir a uma das teses já conhecidas da jurisprudência.
Por isso, foi quase por acidente que escrevi o primeiro texto que segue, Os juros legais no novo Código Civil e a inaplicabilidade da taxa SELIC, o que fiz em agosto de 2002, quando percebi as dificuldades e adivinhei as polêmicas na interpretação do artigo 406.
Fiz um texto despretensioso, com o objetivo principal de discutir a matéria entre os colegas juízes e talvez publicá-lo na Revista da AJURIS, e, por iniciativa do Desembargador Antônio Guilherme Tanger Jardim, acabei por vê-lo publicado também na Revista Cidadania e Justiça, da AMB, e antes mesmo disso, de ver sua tese acolhida, como Enunciado nº 20, na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em 11 a 13 de setembro de 2002, proposta que foi pelo Desembargador Francisco José Moesch.
Depois, foi a curiosidade em acompanhar a discussão que me estimulou a escrever mais alguma coisa, e acabei por ter em mãos um total de doze textos, escritos nos meus períodos de férias.
São textos que, talvez porque escritos por um juiz, operador jurídico, mas não doutrinador, resultam menos de um estudo sistemático do que de uma aproximação intuitiva com a matéria, edifício que é antes obra do pedreiro ou do carpinteiro do que do arquiteto ou engenheiro. Por isso, são desiguais em tamanho e conteúdo, em alguns aspectos repetitivos, em outros contraditórios, mesmo porque me surpreendi, no decorrer da escrita, em perceber que o esforço em pensá-los alterava minha posição sobre alguns pontos.
Também o seu objetivo revela essa característica, e por isso, pelo menos no que se refere aos juros bancários, os escritos, embora sugiram também soluções, buscam muito antes estimular a discussão sobre a matéria, à medida em que questionam posições já cristalizadas, entre as quais a minha própria.
Porto Alegre, março de 2005.
PONTO 1 – OS JUROS LEGAIS NO NOVO CÓDIGO CIVIL E A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC*
O artigo 406 do Código Civil que entrará em vigor em janeiro de 2003 estabelece que os juros legais serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Remete-nos, portanto, à Taxa SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que, por força da Lei 9.065/95 e leis posteriores, remunera os impostos pagos em atraso à União.
Contudo, por uma série de razões, a utilização da SELIC é não apenas desaconselhada, mas também impraticável, seja por sua natureza e pela forma da sua composição, seja mesmo porque sua utilização para apuração dos juros legais estabelecerá um conflito com outras regras jurídicas, inclusive de natureza constitucional.
Neste momento em que se discutem as mais variadas alterações operadas em nosso ordenamento jurídico, em debates que sabidamente ultrapassarão o marco temporal da entrada em vigor da Lei 10.406/02, mesmo porque o ajustamento das novas regras ao nosso sistema apenas se dará de forma lenta e integrada, a questão dos juros legais exige todavia uma tomada de posição rápida, para que os operadores jurídicos não sejam tomados pela perplexidade ao tratarem da matéria, o que levará, no que se refere especificamente às demandas condenatórias e processos executivos, a soluções díspares, incompletas e inadequadas, causadoras de insegurança jurídica e de demoradas querelas envolvendo impugnações sobre valores.
Por essa razão, e sem maiores veleidades teóricas, mas preocupado com minha atividade jurisdicional, em decorrência da qual quase diariamente lanço sentenças em que, ainda que apenas como provimento acessório, trato dos juros legais, e preocupado com idêntica atividade dos meus colegas da magistratura, faço as seguintes ponderações.
- A SELIC como taxa mista
A Taxa SELIC é apurada pelo Banco Central do Brasil a partir da média dos financiamentos diários referentes a títulos públicos federais. É fixada mensalmente, e reflete uma expectativa de inflação – veja-se que não mede inflação passada, mas prevê inflação futura – mais os juros referentes à dívida pública interna federal. Trata-se, portanto, de taxa mista, que engloba correção monetária e juros. Embora tenha sido, de início, utilizada concomitantemente com a UFIR, logo afirmou o STJ a impossibilidade dessa dupla incidência, justamente em decorrência de seu caráter misto, e a UFIR acabou mesmo por ser extinta. A utilização da SELIC na cobrança de tributos é feita, portanto, sem a concomitância com outro índice de correção monetária ou de juros.
Pela mesma razão, e sem embargo das diversas referências do novo Código Civil à incidência cumulada de juros e atualização monetária apurada segundo índices oficiais regularmente estabelecidos (vejam-se os arts. 389, 395, 404, 418 e 772), não se poderá, sob pena de promover dupla incidência de correção monetária, aplicar aqui mais um índice, ainda que oficial.
- Correção monetária sem juros e juros sem correção monetária
Disso resulta uma dificuldade prática na sua utilização como taxa legal de juros. Sabidamente coexistem os institutos dos juros e da correção monetária. O primeiro deles, de longa vida, destina-se a acrescer ao capital, seja com finalidade remuneratória, seja moratória. Já o segundo se impôs como conseqüência da realidade inflacionária das últimas décadas, arredando mesmo dispositivos legais restritivos, como reconhecimento da necessidade de se manter situação de igualdade entre credor e devedor, que se solapava em decorrência da inflação. Por isso, a consagrada máxima, segundo a qual “correção monetária não é um plus que se acresce, mas um minus que se evita”.
No momento em que se confundem os dois institutos num índice único, criam-se vários problemas. Um primeiro, e óbvio, é o de que, sendo corriqueiras as situações em que incide correção monetária sem juros ou incidem juros sem correção monetária, grande será a dificuldade para nesses casos liquidar qualquer débito.
Vejamos duas situações. Na hipótese em que os juros incidem a partir da citação, pode haver necessidade de correção anterior do débito. Tomemos uma situação de incumprimento de contrato sem constituição em mora anterior à citação, ou então uma ação monitória por título que perdeu a executoriedade pela prescrição, hipótese em que tem prestígio na jurisprudência o entendimento de que os juros não incidem antes da citação. Em ambos os casos, é necessário calcular a correção do débito antes da citação, e aí não será cabível a utilização da SELIC.
Em outra hipótese, por exemplo a indenização por ato ilícito extracontratual, os juros incidem antes mesmo da correção monetária. Desde a expedição da Súmula nº 54 do STJ, que reconheceu, no ilícito civil, a incidência de juros desde a data do fato, em entendimento consagrado pelo art. 398 do novo Código Civil, a matéria restou pacificada na jurisprudência. Contudo, a correção monetária incide somente a partir do desembolso, que muitas vezes é posterior ao fato; assim, as despesas com conserto de veículo ou despesas médico-hospitalares por cirurgia reparadora ou até mesmo da indenização por dano moral, quando o valor condenatório tem como ponto de partida a data da sentença. Nessa hipótese, não se terá parâmetro para a fixação de juros.
Em ambas as situações acima vistas, ficará impossível a utilização da SELIC, porquanto não distingue o que nela são juros e o que nela é correção monetária. Nesse caso, será necessário utilizar um outro índice, por exemplo o IGPM, seja para apurar diretamente a correção, quando somente esta incidir, seja para, em cotejo com a SELIC, apurar o que nela corresponde a juros. Fique claro, de qualquer maneira, que isso será não mais do que um exercício de aproximação da realidade, porque nada de científico há em tomar um índice por outro, quando a forma de sua apuração é distinta.
- A SELIC é incompatível com o art. 591 do novo Código Civil
Há um outro aspecto, em que é ainda mais grave a conseqüência da cumulação de dois institutos num índice único. Os juros, sabe-se, podem ser simples ou capitalizados; são simples quando apenas se somam mês a mês, e são capitalizados sempre que os juros futuros incidem não só sobre o capital, mas igualmente sobre os juros anteriormente apurados. Já a correção monetária é um índice que não pode ser senão cumulado, porque mede sempre a variação dos preços de um determinado período de tempo a outro. A inflação de um determinado mês é sempre a variação da média de preços daquele mês sobre a média de preços do mês anterior, e a inflação de um ano não resulta da simples soma dos índices mensais de inflação, mas corresponde à variação dos preços entre dezembro de um ano e dezembro do ano seguinte. Calcula-se, portanto, de forma cumulada, e não poderia ser de outra forma – e por isso o equívoco conceitual de quem fala em capitalização da correção monetária e a considera ilícita.
Por isso, a SELIC, que, por sua finalidade, é calculada cumulativamente, não poderia ser usada de outra forma, sob pena de não responder adequadamente à desvalorização da moeda. Contudo, como se trata de índice que conjuga correção monetária e juros, sua utilização, feita em observância ao comando do art. 406, ofenderá o art. 591 do novo Código Civil, porque proíbe este, pelo menos no que se refere ao contrato de mútuo, a capitalização com periodicidade menor à anual. Assim, em se tomando como certa a opção do art. 406 pela SELIC, será inaplicável o dispositivo que veda a capitalização mensal.
- A insegurança que decorre das oscilações
Em outro aspecto igualmente não é recomendável tomar a Taxa SELIC como índice definidor dos juros: a segurança jurídica. Até hoje, e mesmo antes da Constituição de 1988, havia duas taxas de juros que serviam de referência em qualquer situação: a taxa legal do art. 1.062 do Código Civil, de 6% ao ano, e o máximo legal, que, conforme estipulado pelo art. 1º do Decreto 22.626, podia chegar a 12% ao ano. Com a SELIC, nunca se conhecerão os juros futuros, porque ela é fixada mês a mês. No máximo, poderá algum conhecedor do mercado financeiro projetar uma tendência, e disso tomar proveito, o que também não é recomendável. Portanto, ninguém saberá dizer o montante da taxa legal de juros, se ela for assim balizada.
E as oscilações da SELIC não são pequenas; basta ver seu comportamento desde quando passou a incidir sobre os tributos federais, em abril de 1995. Se cotejada com o IGPM, utilizado este índice para isolar na SELIC a parcela que corresponde à correção monetária da que corresponde aos juros, veremos que até 1998 apresentou juros reais muito superiores a 12% ao ano. Nesse ano, os juros foram de 26,52%; em 1995, de 23,52% para apenas nove meses.
É certo que, por seu comportamento recente, não se pode propriamente considerar a Taxa SELIC perversa: desde 1999, confrontada ainda com o IGPM, apresentou taxas de juros anuais de 4,57%, 6,82%, 6,29% e, neste ano, para sete meses, 4,59%. Contudo, a incerteza é permanente: dos 88 meses que transcorreram entre abril de 1995 e julho de 2002, em 50 meses apresentou juros reais superiores a 1%, em 29 apresentou juros positivos de até 1% e em nove meses apresentou juros negativos. Nos últimos doze meses, as ocorrências foram de cinco, cinco e duas.
Ademais, se nos últimos anos o índice tem apresentado valores reduzidos, isso é conseqüência unicamente de alterações nas condições de fixação do valor da dívida pública, e juridicamente nada garante não volte o índice aos parâmetros de 1995, quando apresentou juros reais de mais de 2% ao mês.
Portanto, quando se fala em insegurança, não se está dizendo mais que insegurança. Poder-se-ia dizer iníquo o índice, e de fato por longo período apresentou percentuais elevadíssimos, bem superiores ao limite de 12% do art. 192, § 3º, da Constituição Federal; mas apresentou igualmente em alguns períodos resultados inferiores a outros índices, que medem exclusivamente a inflação. Tomados, por exemplo, os dois meses anteriores àquele em que escrevo, foi inferior ao IGPM. Houve, portanto, aqui, índices negativos, o que, bem entendido, significa que nesses períodos seria o credor quem pagaria juros ao devedor, o que é uma hipótese inaceitável como regra jurídica, porque o Código Civil não pode ser uma bolsa de apostas.
A insegurança reside igualmente no fato de que contrato nenhum poderá prever juros em valor fixo, mas somente em percentuais sobre a SELIC, porque, em fixando juros em percentual certo, poderá tê-los excluídos, pelo comando do art. 591, sempre que excederem aquele índice.
- Juros inconstitucionais
Por outro lado, cada vez que, em cotejo com outro índice que apure unicamente a correção monetária, se concluir que num determinado período os juros mensais incluídos na SELIC foram superiores a 1% (ou mesmo a 0,95%, porque nesse caso a capitalização mensal os elevará no ano a mais de 12%), disso resultará a pertinente discussão sobre excesso de cobrança, por ofensa ao art. 192, § 3º, da Constituição Federal.
A propósito de adequação à Constituição, é importante consignar que a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inconstitucional a utilização da Taxa SELIC em matéria tributária. Com isso, por extensão, por certo também não serve esta Taxa como indicador dos juros legais.
- Em resumo
Resumindo, a utilização da SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros, que poderão inclusive ser negativos em alguns períodos; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou se calcular somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591, que permite apenas a capitalização anual dos juros; e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, na medida em que, como já ocorreu no passado, dela resultarem juros reais superiores a 12% ao ano; e além disso tudo tem sua utilização colocada em xeque por entendimento de uma Turma do STJ, que inadmite sua utilização na cobrança de impostos.
Acresça-se ainda a todos esses óbices a circunstância de que a Taxa SELIC é uma taxa do mercado financeiro, estabelecida mensalmente para fixar a remuneração dos títulos de dívida pública do Governo Federal. Muito estranho seria que uma nova codificação, que levou décadas para ser finalmente aprovada, subordinasse um ponto central de seu regramento, destinado a regular de forma segura a relação jurídica entre as pessoas, aos humores do mercado financeiro, atrelando os juros dos débitos judiciais e extrajudiciais à cotação dos papéis da dívida pública.
- A solução pelo art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional
Por outro lado, a sua substituição por outro índice não é tarefa simples, porque estamos a tratar de juros legais, portanto juros estabelecidos por lei, aqui especificamente o art. 406 do novo Código Civil. Penso, todavia, haver uma solução: ser considerado como taxa legal de juros o percentual de 1% ao mês, 12% ao ano. Trata-se do percentual previsto pelo art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, aplicável em matéria tributária sempre que a lei não dispuser de modo diverso. Tem, portanto, nossa legislação tributária um índice permanente e de aplicabilidade imediata sempre que a legislação específica deixar de enfrentar a matéria. Embora não corresponda exatamente à previsão do art. 406 do novo diploma, porquanto não está em uso, trata-se de índice utilizável a qualquer momento, bastando deixe de ser aplicada a SELIC, o que não é improvável, se considerada a sucessão de índices cuja criação ocorreu nas últimas décadas, embalada pelas sucessivas crises econômicas e pelos planos para seu combate.
A propósito, demonstrando o quão insegura é a utilização da Taxa SELIC, a própria legislação tributária (art. 39, § 4º, da Lei 9250/95, e igualmente art. 84, § 2º, da Lei 8.981/95) afasta sua aplicação no mês do pagamento do tributo, pela singela razão de que a média das taxas diárias somente será apurada ao final do mês. E, nesse caso, mais uma vez a solução apontada pela lei são juros de 1%.
A utilização desse percentual não apenas dará resposta adequada aos problemas acima apontados, como igualmente permitirá enfrentar a contento a estranha disposição do art. 591, que veda a fixação de juros em índice superior ao dos juros legais. Esta é a única solução para que não se considere essa proibição como uma limitação ainda mais restritiva que a do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, o que não me parece que seria bom para os negócios jurídicos.
Também não parece, é certo, que esse resultado seja melhor do que a ordem hoje vigente, segundo a qual são legais os juros de 6% ao ano e é lícita sua elevação ao dobro. Contudo, se considerarmos que a maioria dos contratos celebrados entre partes economicamente desiguais já estipula juros nesse patamar, se não em índice superior, veremos que esta disposição apenas ensejará um acréscimo de juros em uma gama mais restrita de hipóteses, principalmente em responsabilidade extracontratual, e talvez aqui seja mesmo positiva a majoração.
De qualquer maneira, em não tomados como legais os juros de 1% ao mês, pela disposição combinada do art. 406 do novo Código Civil e do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, o que considero juridicamente sustentável, não vejo como possamos ficar livres, em breve, da perplexidade e do caos no tratamento dispensado à matéria.
PONTO 2 – AINDA SOBRE O ARTIGO 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A SELIC
Como era esperado, a redação do art. 406 do novo Código Civil ensejou, logo após a sua entrada em vigor, grande polêmica sobre o índice legal de juros que dela decorre. Tanto em livros de comentadores do novo diploma quanto em artigos em jornais e na internet, surgiram defensores da tese de que os juros legais são de 1% ao mês e outros de que se aplica a Taxa SELIC.
Embora os argumentos que considero essenciais na defesa do entendimento de que os juros legais são os do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional já constem de artigo anteriormente escrito, é adequado que sejam respondidos alguns outros, que foram utilizados em defesa da aplicabilidade da SELIC.
Na análise anteriormente feita, afirmei que da aplicação da Taxa SELIC resultaria insegurança jurídica, dificuldade operacional, incompatibilidade com o art. 591 do Código Civil e possível inconstitucionalidade, e concluí ao final que a solução estava no Código Tributário Nacional. Aprovado esse mesmo entendimento no Enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, houve tentativas de refutar alguns dos argumentos utilizados, e, porque considero que não chegaram afetar a sua validade, retomo a questão, para analisar algumas das críticas feitas.
- Sobre a segurança jurídica
Houve quem, defendendo a utilização da SELIC, dissesse equivocada a afirmação de que não haveria segurança jurídica na sua adoção. Na linha dessa crítica, foi alegado que grande quantidade de contratos já carrega essa característica da incerteza, e que é exatamente isso que acontece com quem investe na caderneta de poupança ou com quem realiza financiamento imobiliário ou habitacional, e da mesma forma é o que ocorre com o pagamento dos tributos federais, sem que nunca tivesse resultado disso nenhum grave prejuízo à segurança jurídica. Foi ainda alegado que a ressalva feita com base no argumento da segurança jurídica indica um modo conservador de ver a lei, que impede a compreensão das virtudes de uma norma aberta, como o redator do Código sempre teve em mente, porque, na redação original do art. 406, vinculava os juros legais às taxas praticadas pelas instituições bancárias. Mais ainda, como aspecto positivo da utilização da SELIC, foi dito que ela cria pesado ônus para quem antes rolava suas dívidas de forma temerária, porque ganhava no mercado financeiro bem mais do que os encargos moratórios que resultavam da lei.
De início, é de se ressaltar que a caderneta de poupança e os financiamentos habitacionais não são exemplos felizes para tais argumentos, porque tanto o poupador quanto o mutuário do Sistema Financeiro da Habitação sabem muito bem os juros que pagarão: a caderneta de poupança paga juros de 0,5% ao mês e os juros dos empréstimos habitacionais são sempre previstos em percentuais certos, dentro do limite legal de 12% ao ano, previsto pelo art. 25 da Lei 8.692/93.
Essa crítica incorre em uma confusão, que consiste em tomar equivocadamente a correção monetária como se de juros se tratasse. Por isso, se é evidente que o poupador não saberá o valor que ao final do mês será acrescido em sua conta e se o mutuário não sabe de quanto será o próximo reajuste da casa própria, não é porque não conheçam a taxa de juros aplicada, mas porque não sabem, porque ninguém nunca saberá, de quanto será a correção monetária, representada na poupança pela TR e no mútuo imobiliário pelo índice legal contratado, conforme sucessivos critérios legais incidentes sobre a matéria. Em outras palavras, não sabem o quanto será somado para manter o valor igual, o minus que se evita, mas muito bem conhecem o plus que se acresce.
Isso não significa que não haja contratos em relação aos quais os juros sejam fixados posteriormente, o que é comum em contratos bancários. Contudo, são, de regra, contratos bem identificados, em geral aplicações financeiras, que por natureza têm a sua rentabilidade determinada pelo mercado financeiro, ou contratos em que a própria instituição financeira os fixa (contratos de abertura de crédito em conta corrente e cartões de crédito).
Veja-se, contudo, que há uma diferença essencial entre estes contratos e aqueles mencionados nos exemplos, dos quais um é destinado à poupança popular e outro à aquisição de bem essencial, ambos com disciplina específica, dado o interesse público na proteção dos contratantes. Considerada a comparação, é de se perguntar se é mais conveniente que as regras gerais referentes às obrigações civis obedeçam a critérios mais rígidos e seguros ou que se submetam às oscilações do mercado financeiro ou às convicções dos integrantes do COPOM.
Por isso, o elogio à norma jurídica aberta deve ser tomado com muita cautela, porque a questão não consiste em estabelecer valores jurídicos a serem mensurados pelo intérprete, mas em valor numérico, que pode ser certo ou indeterminado, e a abertura preconizada mais se parece com a desregulamentação, tão defendida por quem pretende ver derrubados todos os limites à voracidade do mercado. Assim, quem preencheria o vazio da norma aberta não seria nunca o julgador, mas a reunião mensal do COPOM.
Por outro lado, se é significativo que a redação original do art. 406, que vinculava os juros legais àqueles praticados pelas instituições bancárias, foi abandonada, o que daí deve ser retirado é justamente que houve o abandono de uma proposta equivocada.
Não parece, portanto, autorizada a tese de que o legislador criou uma cláusula aberta, pensando em transformar o universo das obrigações e dos contratos em um apêndice do mercado financeiro.
- Sobre a operacionalidade
Não chegou a haver solução clara, entre os defensores da aplicação da Taxa SELIC, às dificuldades que advirão do fato de que ela é uma taxa mista, que simultaneamente corrige o débito e remunera o capital, e parece que isso é mesmo admitido como uma dificuldade na sua aplicação, mas há quem, voz minoritária, afirma que a SELIC mede somente juros, e portanto deve ser aplicada juntamente com um índice de correção monetária.
Novo equívoco. Como explicado no artigo anterior, a Taxa SELIC corresponde à remuneração que será paga ao final de doze meses pelos títulos federais. O único ponto que autoriza o argumento de que ela não traz embutida correção monetária é o fato de que, correspondendo a um período futuro, a inflação ainda não ocorreu, e portanto não poderia ter sido medida.
Contudo, o que existe em sua composição é uma promessa de remuneração que é composta por juros somados a uma expectativa de inflação. O valor mensalmente apurado para a Taxa SELIC é exatamente o valor que será pago ao final de um ano, sem qualquer acréscimo de correção monetária. Ora, se não haverá correção monetária, toda a inflação que houver ocorrido nesse período estará incluída nos juros, que portanto serão juros nominais, e não juros reais.
A questão, está, a propósito, há muito tempo resolvida em matéria tributária: as tentativas iniciais de corrigir o débito pela UFIR e tomar a SELIC unicamente como taxa de juros foram rechaçadas pelo Judiciário, e a 1ª Turma do STJ, que sempre admitiu a sua utilização na remuneração dos débitos tributários, desde cedo firmou posição na negativa da utilização dos dois índices, e a UFIR acabou mesmo por ser extinta em 27 de outubro de 2000.
Por essa razão, quem, pretendendo válida a utilização da Taxa SELIC, quiser utilizá-la simultaneamente com índice de correção monetária, o estará fazendo justamente contra as normas que estabelecem seu modo de apuração e contra o modo como é utilizada na correção dos débitos tributários, sem correção monetária. Além disso, ao utilizar outro índice de correção, patrocinará uma dupla incidência da correção monetária, que se tornará mesmo tripla para quem pretender, com a utilização do art. 1º do Decreto 22.626/33, a aplicação em dobro da taxa legal de juros.
- Sobre a incompatibilidade com o art. 591
Este é outro ponto que parece não ter resposta. Sabidamente os índices mensais da Taxa SELIC são apurados por operação em que o valor anual é convertido primeiro em valor diário e depois mensal, e por isso, em sentido inverso, só atingem o índice anual quando capitalizados. Esta explicação é até dispensável; basta ver o art. 13 da Lei 9.065/95, que, após dizer que ela se aplica em juros tributários, esclarece que o faz acumulada mensalmente. Por isso, quem sustenta que os juros moratórios são os da Taxa SELIC necessariamente tem de afirmar que os juros de mora capitalizam mês a mês.
Todavia, os juros do mútuo somente podem capitalizar ano a ano, como está explícito no art. 591. Mais: os limites dos juros do mútuo são os mesmos juros do art. 406. Daí, resta a contradição: se os juros máximos do mútuo são os do art. 406, e se os juros do art. 406 capitalizam mês a mês, necessariamente os juros remuneratórios do mútuo serão capitalizados mês a mês, contra o texto legal. Para isso não há solução, porque não se poderão tomar no art. 591 os mesmos índices mensais da SELIC e impedir a sua capitalização, hipótese em que o resultado anual seria inferior ao índice anual da SELIC.
Ademais, não se pode esquecer que, confrontado com índices de correção monetária, não raro o índice mensal da Taxa SELIC é inferior. Isso acontece com todos os índices, e com o IGPM ocorreu por nove meses seguidos, no período compreendido entre junho de 2002 e fevereiro de 2003. Ocorrendo essa situação, os juros recebidos pelo mutuante serão negativos: só no período mencionado terão sido de –10,54%. Mais: os juros não poderão ser contratados em valor fixo, em face da incerteza acerca de, dada a oscilação da Taxa SELIC, poderem vir a exceder o limite dos juros legais.
Uma das regras da hermenêutica é a de que não se pode dar a um artigo de lei sentido que o ponha em contradição com outros artigos da mesma lei, sob pena de ferir o sistema. Nesse caso, ou se elimina uma das normas (ou as duas) ou se dá, pelo menos a uma delas, interpretação que compatibilize o sentido de ambas. Esta última é a melhor solução, porque mantém sem mutilações o sistema criado pela lei.
Aqui, essa regra se impõe, e a leitura sistemática da lei leva a descartar a interpretação que aceita corresponderem os juros legais à Taxa SELIC.
- Sobre a inconstitucionalidade
A questão da inconstitucionalidade se põe em dois planos: o primeiro é o da incompatibilidade com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, e o segundo é o da impossibilidade da utilização da Taxa SELIC como determinadora dos juros no débito tributário.
Em relação a este segundo plano, o argumento da inconstitucionalidade perdeu sua força, porque o entendimento da 2ª Turma do STJ, que rejeitava a possibilidade de utilização da SELIC na remuneração de débitos tributários, foi rejeitado pela 1ª Seção daquele Tribunal, em decisão tomada em 14 de maio de 2003, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 399.497-SC, na qual foi uniformizada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, com o reconhecimento da possibilidade de adoção da Taxa SELIC.
Já o argumento do primeiro ponto se mantém íntegro. Em relação a este, houve três argumentos quanto ao alcance da limitação constitucional, a saber: a não-auto-aplicabilidade do art. 192, § 3°, invocada para isso a ADIN nº 4; o de que a limitação da Constituição se destinava somente às instituições financeiras; o de que dizia respeito somente aos juros remuneratórios, mas não aos moratórios. Aos três argumentos, acrescenta-se agora a revogação da limitação constitucional.
Não me parece que os três primeiros possam merecer acatamento. Admitindo-se, com base no argumento de autoridade, que efetivamente a limitação constitucional não se aplicava de plano, é claro que essa eficácia limitada seria suficiente para impedir qualquer lei de fixar juros em patamar superior àquele limite.
Depois, quanto à restrição da limitação constitucional aos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, e não obstante a localização topológica do § 3º do art. 192, em ponto que trata do sistema financeiro nacional, e sua remissão aos juros referentes à concessão de crédito, é novamente de se pensar a questão da única maneira coerente com o sistema, de modo que daí não se extraiam conclusões absurdas.
Ora, se é sabido que às instituições do sistema financeiro nacional é dado tratamento privilegiado no que se refere à fixação dos juros, seria ilógico admitir-se que, limitados pela Constituição os juros cobrados pelas instituições financeiras, tivessem sido por ela liberados para quem não merece esse tratamento privilegiado.
Da mesma forma, não se pode imaginar que sejam permitidos juros moratórios em patamar superior aos remuneratórios, porque o caráter punitivo e compensatório da mora excederia a própria remuneração do capital. Atente-se, sobre isso, à crescente limitação que a legislação trouxe, em diversos diplomas, à multa moratória, neles sensivelmente reduzida. Assim, e apenas como exemplo, não faria sentido ser reduzida para 2% a multa do consumidor ou a do condômino, e lhes ser permitida a cobrança de juros moratórios superiores a 12% ao ano.
Já no que se refere à recente revogação dos parágrafos do art. 192 da Constituição Federal, à primeira vista parece ter sido afastado o argumento da possível inconstitucionalidade. Contudo, salvo melhor juízo, aqui igualmente se aplica a regra do art. 2º, § 3º, da LICC, que veda a repristinação, porque parece certo que a incompatibilidade já é plena com a própria virtualidade, mesmo que ao longo dos poucos meses de convivência não tivesse ocorrido em concreto, dados os índices vigentes, a superação do limite da Constituição.
De qualquer maneira, a inconstitucionalidade já não era, no momento da revogação, 20 de maio de 2003, apenas potencial, porquanto, à exceção do INPC, os principais índices de correção monetária daquele mês indicaram, pelo índice da SELIC, juros superiores a 1% no mês.
- Sobre a utilização do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional
Dois argumentos são utilizados contra a tese de que a alternativa à impraticável utilização da Taxa SELIC esteja na aplicação do art. 161, § 1º, do CTN.
O primeiro deles tem pouca consistência: afirma revogado o dispositivo do Código Tributário, desde que entrou em vigor a alteração legislativa que introduziu a SELIC como taxa de juros aplicável para tributos federais. Deixando aqui de lado o entendimento de que a Taxa SELIC não se aplica e, para fins de argumento, admitindo-a aplicável, mesmo assim não estará revogado o dispositivo do CTN que fixa os juros em 1% ao mês.
Neste caso, não se aplica a regra do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, uma de cujas hipóteses diz revogada a lei antiga incompatível com a nova. Ocorre que o legislador incluiu no art. 161, § 1º, uma regra que impede a revogação por mera incompatibilidade, e por isso ela acontecerá somente se presente uma das outras hipóteses da LICC: revogação expressa ou aprovação de nova lei que regule integralmente a matéria.
Veja-se a redação do parágrafo do mencionado artigo: “§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.” Admite, portanto, o Código Tributário, que outra lei disponha de modo diverso, hipótese em que ficará suspensa a eficácia do § 1º do art. 161, mas não ocorre sua revogação, porque ele permanece como regra supletiva, pronta para ser utilizada na hipótese de não mais haver lei que disponha de modo diverso.
Respondido esse argumento, resta o segundo, mais consistente, justamente porque tem como certo o que foi afirmado em resposta ao primeiro. Segundo esse argumento, a regra do CTN não pode ser aplicada porque os juros em vigor são os da Lei 9.065/95 e leis posteriores, que estabelecem seja utilizada a Taxa SELIC. Assim, dizendo o art. 406 do Código Civil que os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, isso necessariamente remete à SELIC, porque é a taxa em vigor.
Trata-se de tese coerente com a redação do texto legal, visto que, efetivamente, a taxa praticada hoje pela Fazenda Nacional é a SELIC, porque suspensa a eficácia do dispositivo correspondente no CTN. A resposta que se deve dar a ela é a do conjunto dos argumentos até aqui utilizados, e que podem ser resumidos em dois argumentos sucessivos, cada um deles suficiente: 1) se é inconstitucional a utilização da SELIC como índice de remuneração dos débitos tributários, ela deve ser descartada, e já não se poderá considerar suspensa a eficácia do art. 161, § 1º, do CTN; 2) se, válida sua utilização, a SELIC capitaliza mês a mês e conjuga em índice único juros e correção monetária, ela é imprestável, porque não se harmoniza com diversos artigos do novo Código Civil; nessa última hipótese, para preservar a coerência do Código e a própria coerência do sistema jurídico, que, abandonando o nominalismo, admite a existência do instituto da correção monetária, distinto dos juros e com eles inconfundível, é melhor sacrificar o índice em vigor e buscar a alternativa que o próprio sistema oferece. A esse propósito, é interessante não esquecer que, quando impossível a utilização da SELIC, o que acontece no mês do pagamento do tributo, a lei determina a utilização do mesmo índice de 1%.
Por isso, e por menos perfeita que seja a solução preconizada, não há senão considerar estejam os juros legais fixados em 1%, percentual que emerge muito mais como alternativa, resultado de um esforço hermenêutico, dadas as razões que demonstram a inaplicabilidade da SELIC, do que por clara e insofismável afirmação do art. 406 do Código Civil.
PONTO 3 – JUROS MORATÓRIOS DE 50%?
A entrada em vigor do novo Código Civil trouxe aos operadores jurídicos a tarefa de interpretá-lo e sugerir sua melhor aplicação ao mundo dos fatos. Isso por certo resulta em muitas propostas e cogitações, nem sempre norteadas por espírito científico, e com freqüência gestadas conforme a perspectiva de quem pretende, com uma leitura particular, buscar resultados que lhe sejam mais favoráveis.
Tal busca é legítima e pode, se aceita a proposição pela comunidade jurídica, tornar universal uma leitura que originalmente se adequava aos interesses de quem a formulou. Por outro lado, isso impõe cuidado com a análise das proposições que vêm sendo feitas, porque poderão corresponder a não mais que interesses particulares, sem correspondência com o que a lei efetivamente dispõe.
Refiro-me aqui a entendimento segundo o qual, correspondendo os juros legais à Taxa SELIC, a disposição combinada do novo art. 406 do Código Civil com o velho art. 1º da Lei de Usura permitiria a contratação de juros moratórios equivalentes a duas vezes o valor da SELIC, e portanto autorizaria cobrar juros moratórios de 53% ao ano.
Essa tese vem muitas vezes acompanhada de um discurso de loas à nova lei, porque, segundo tal pensamento, finalmente surgiu um dispositivo que permitirá coibir a prática abusiva de devedores renitentes, que, podendo ter resultados bem mais expressivos no mercado financeiro, optavam até agora por não pagar suas dívidas, e eram premiados pelos baixos limites dos encargos moratórios, impostos até pouco tempo por nosso ordenamento.
Abstenho-me de voltar a discutir a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC, ponto já enfrentado. Admito entretanto, apenas para fins de raciocínio, que ela corresponda aos juros legais. É claro que, ao assim fazer, devo arcar com as conseqüências daí decorrentes, ou ignorar a incompatibilidade com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, de qualquer maneira agora revogado, ou com o art. 591 da nova lei, porque haverá capitalização mensal dos juros moratórios, o que não me parece autorizado pelo sistema.
Mais, se o valor da SELIC agrega a um tempo juros e correção monetária, o valor em dobro da SELIC significa não só o dobro de juros, como previsto pelo art. 1º do Decreto 22.626/33, como igualmente a correção monetária cobrada em dobro, o que, por esdrúxulo, dispensa comentários.
Afaste-se, entretanto, a SELIC, e substitua-se-a por juros de 12% ao ano, e mesmo assim não escapará de ser criticada a proposição, e por uma simples razão: embora isso não esteja expressamente dito pela lei, o art. 1º da Lei de Usura está revogado.
Há razões fortes para assim concluir. Vejamos, primeiro, a dicção do artigo em comento: É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1.062).
Embora nem todos os códigos que se editam a reproduzam, a remissão ao final feita ao art. 1.062 do Código Civil – lembre-se que aqui se trata do Código de 1916 – tem relevância jurídica. Não estaria, com efeito, incorreta a leitura redutiva que dissesse: “É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa do Código Civil, art. 1.062.”
Os dois dispositivos, o que fixava os juros legais e o que admitia a sua cobrança até o dobro, conviveram por setenta anos, e sempre tiveram uma relação tão estreita, que os tornava inseparáveis.
De fato, o legislador de 1933 teve a preocupação de não só dizer que os juros máximos contratados não poderiam exceder o dobro da taxa legal, mas de igualmente lembrar que o dobro da taxa legal era 12%. Não se esqueça que o espírito dessa lei, quando no mundo inteiro a economia liberal entrava em colapso, era o de limitar. E não se pode presumir que o legislador de agora tenha autorizado que o dobro dobrasse, e o que era 12 se tornasse 24.
Assim, no momento em que é revogado o art. 1.062 do Código Civil de Bevilacqua, fatalmente o destino do art. 1º da Lei de Usura é acompanhá-lo, e já não se poderá dizer que a lei autoriza cobrar juros fixados no dobro da taxa legal. Não só porque a lei assim não dispôs, seria absolutamente impertinente substituir hoje a referência ao art. 1.062 pela referência ao art. 406.
Neste ponto, não se aplica a regra do art. 2.046 do novo Código, segundo a qual as remissões feitas em outros diplomas a artigos do antigo Código se consideram feitas às disposições correspondentes do novo Código. Ocorre que para isso teria de haver efetiva correspondência, uma certa identidade, que aqui inexiste.
Ademais, se aqui se entendesse alterada a remissão, com a troca do art. 1.062 pelo art. 406, como previsto pela regra do novo Código, se teria muito mais do que e uma nova remissão, mas uma mudança qualitativa de um artigo de legislação extravagante. Não é esse, com certeza, o propósito do art. 2.046 do novo diploma.
Mas essa não é a única razão relevante para dizer revogado o art. 1º do Decreto 22.626; há mesmo um argumento de maior hierarquia, dada sua origem constitucional. Com efeito, supondo-se inexistente a sua relação de dependência para com o antigo art. 1.062, e que igual relação agora terá com o art. 406, como preconizado, não se poderá fugir da inconstitucionalidade do artigo.
Note-se, nesse caso, que, embora em nada tenha sido alterada a sua redação, foi radicalmente alterado o seu conteúdo, porque ele já não diz que a taxa máxima de juros considerada lícita é de 12% ao ano, mas já agora que podem ser cobrados juros de 24% ao ano.
Ora, quando entrou em vigor o novo Código, ainda não havia sido revogado o § 3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia o limite máximo da taxa anual de juros em 12%, e mesmo a ADIN nº 4, na qual o Supremo Tribunal Federal disse não ser auto-aplicável aquela norma, não pode ser invocada.
Com efeito, carecendo o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, de norma infraconstitucional que o regulamentasse, desde logo fixou um parâmetro. Sem entrar na discussão sobre aquela decisão do Supremo, mas tendo-a mesmo como certa e universalmente aceita, isso não significa que a regra inexistisse ou que lhe foi negado vigor. Ela servia muito bem para dizer que qualquer lei que viesse a estabelecer a possibilidade de cobrar juros em patamar superior seria inconstitucional, e portanto não poderia ser aceita no mundo jurídico.
Além disso, não era auto-aplicável para o sistema financeiro, cuja regulamentação dependia de lei complementar, mas perfeitamente aplicável quando se tratava de matéria não referente ao mercado financeiro, e igualmente aos juros moratórios.
E como a inconstitucionalidade é imediata, e a revogação pela inconstitucionalidade igualmente o é, em 11 de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil, e portanto ocorreu a alteração da substância do art. 1º da Lei de Usura, este foi imediatamente revogado.
Não se esqueça, porque a regra está clara no art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que a repristinação não se pode presumir, mas deve decorrer de expressa previsão legal. Por isso, uma vez afastada a norma do mundo jurídico, ela já não terá licença para a ele retornar.
Portanto, se não revogado por incompatibilidade com o novo Código, o artigo estará revogado por sua inconstitucionalidade.
Existe, ainda, outro aspecto, que penso não deva ser negligenciado: há uma tradição, na legislação brasileira, em equivaler juros moratórios com juros remuneratórios. Isso está claro nos arts. 1.062 e 1.063 do antigo Código e igualmente no artigo da Lei de Usura de que estamos a tratar. Aliás, essa intenção do legislador parece tão óbvia que nunca se preocupou em ser preciso sobre isso.
E não me parece ter sido distinta a intenção do legislador do novo Código, que disso nos dá uma pista na redação do art. 591, segundo o qual a taxa dos juros remuneratórios do mútuo não poderá ultrapassar a taxa do art. 406. Novamente aqui uma das modalidades de juros fica amarrada à outra.
É claro que se poderá dizer que o que a lei veda é a fixação dos juros remuneratórios em percentual superior ao dos juros legais do art. 406, que são moratórios, mas que em nenhum lugar diz que os próprios juros moratórios não possam ser superiores.
Está certo isso, embora não pareça proposital o silêncio. Além disso, dada a natureza das diferentes espécies de juros, não vejo como se possa permitir a elevação dos moratórios, e se negue justamente a elevação dos remuneratórios, como se a pena pelo descumprimento devesse ser maior mesmo do que o proveito que pode resultar à parte na normalidade do contrato. Note-se, a propósito, a regra do art. 5º da Lei de Usura, que autoriza sejam os juros elevados, na mora, de somente 1% ao ano.
Pensem-se, ademais, os juros moratórios em cotejo com a multa, com a qual compartilham a função de penalizar o devedor inadimplente. É da tradição do Judiciário reduzir multas contratadas em percentuais muito elevados, e o próprio legislador, que já a limitou no mútuo em 10% (art. 9º da Lei de Usura), a tem reduzido em outras leis.
E aqui não há como esquecer o Código de Defesa do Consumidor, em que limitada a 2%, conforme dicção do art. 52, § 1º, e o próprio Código novo, que estabelece igual teto no atraso do pagamento da contribuição de condomínio. Como se poderia pensar compatíveis uma cláusula penal, que, como pena que se aplica de uma única vez, deveria ter maior poder suasório, e mesmo assim ficou limitada em 2%, com juros moratórios que mês após mês acresceriam igual percentual sobre o débito?
Não se pode, por isso, deixar de ver, para além das incompatibilidades que resultam da comparação com outras normas, que há um descompasso entre a idéia que pretende ver autorizada pelo novo Código Civil a exacerbação dos encargos da mora para além da autorização já dada pelo art. 406 e um evoluir que tem apontado justamente em limitar esses encargos.
A conclusão só pode ser uma: o art. 1º do Decreto 22.626/33 está revogado, e a fixação dos juros em 1% ao mês corresponde, a um tempo, ao índice legal e ao limite máximo autorizado pela lei.
PONTO 4 – JUROS MORATÓRIOS: 1% AO MÊS OU 1% AO ANO?
Embora na doutrina nunca tenha havido dúvida sobre a distinção conceitual entre juros remuneratórios, ou compensatórios, e juros moratórios, historicamente o legislador não teve muito cuidado em ser preciso ao tratar da matéria.
O Código Civil de 1916 foi um exemplo disso. Ao tratar dos juros legais, o fez em dois artigos, o 1.062 e o 1.063, dos quais, na remissão à fonte dos juros legais, era o primeiro que costumava ser mencionado. Neste primeiro artigo, fez expressa referência aos juros de mora (Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262) será de 6% (seis por cento) ao ano.); no segundo não estabeleceu distinção, e implicitamente referiu tanto uma quanto outra forma (Art. 1.063. Serão também de 6% (seis por cento) ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes convencionarem sem taxa estipulada.).
Contudo, foi o primeiro desses dispositivos que fez remissão ao art. 1.262, no qual se tratava da remuneração no mútuo, portanto de juros remuneratórios. E este, da mesma forma, remetia ao art. 1.062, e não ao 1.063: É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras cláusulas fungíveis. Esses juros podem fixar-se abaixo da taxa legal (art. 1.062), com ou sem capitalização.
E o art. 1.063, abrangia, na sua parte inicial, os juros devidos por força de lei, que podiam ser moratórios ou remuneratórios, conforme a hipótese legal posta; eram, por exemplo, remuneratórios os juros devidos ao mandatário pelos adiantamentos por ele feitos na execução do mandato (art. 1.311), mas moratórios os juros devidos pelo tutor após o julgamento da prestação de contas (art. 441). E a segunda parte, quando as partes convencionarem sem cláusula estipulada, também podia, dada a falta de especificação, dizer com juros de qualquer natureza.
Havendo confusão na origem, ela prosseguiu na legislação posterior. O art. 1º do Decreto 22.626/33, embora claramente dispusesse sobre juros remuneratórios, fez igualmente referência ao art. 1.062 do Código Civil, e não ao seu companheiro topográfico: É vedado, e será punido nos termos desta Lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (art. 1.062 do Código Civil).
É claro que o art. 1º não dizia de modo explícito que estava a tratar de juros remuneratórios, mas isso resultava claro por duas razões: primeiro, tratava-se de lei que visava a coibir a usura e a remuneração exagerada do capital, como se percebe já nos seus considerandos e da própria denominação que lhe foi dada, Lei de Usura; segundo, pelo menos em parte, para a hipótese em que já fixados os remuneratórios, a lei se encarregou dos juros moratórios em artigo próprio, o 5º, segundo o qual, Admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 1% (um por cento) e não mais.
De qualquer maneira, o art. 1º passou a ter aplicação simultaneamente para os juros remuneratórios e para os moratórios, estes últimos somente na hipótese de não prever o contrato juros remuneratórios, porque, em os prevendo, a mora ensejaria a aplicação do art. 5º.
Porém, no que se refere ao art. 5º, as coisas não foram exatamente como pareciam. Pontes de Miranda afirmava não serem moratórios os juros ali disciplinados; tomava-os como espécie distinta, embora da mora decorressem:
Cumpre que se distingam, preliminarmente, (a) as cláusulas de juros de juros, em caso de mora, e (b) a cláusula de elevação dos juros, em caso de mora: ali, estabelece-se taxa para que dos juros não pagos fluam juros; aqui, dispõe-se que, incorrendo em mora o devedor, a taxa de juros seja elevada. As duas cláusulas, (a) e (b), não se confundem com (c) as cláusulas penais por mora do capital e (d) por mora dos juros.
(…)
As cláusulas de elevação de juros, em caso de mora, são cláusulas com que o credor se precata contra a duração da mora, mas, aí, os juros a mais se não tem como juros moratórios, devido ao conteúdo mesmo da cláusula (juros x, ou, se ocorre m, juros y). A alusão, aí, é feita à mora, porém poderia ser a qualquer outro fato que servisse de elemento diferenciador, no tempo das taxas estipuladas. A construção jurídica tanto pode ser: “juros y, mas, enquanto não se der mora, juros x”, como “juros x, mas, se ocorrer mora, juros y”. Daí a necessidade de x e y não excederem as taxas máximas das leis contra a usura. Na técnica legislativa, o legislador pode determinar a) que os juros y não podem exceder a taxa legal, – ou b) admitir que, em caso de mora, se elevem os juros de x até y, sendo y abaixo da taxa máxima das leis de usura ou c) acima da taxa máxima das leis de usura. O Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, art. 1º, permitiu taxas até 12%, isto é, até o dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1.062) e – tendo de solver o problema de técnica legislativa a que aludimos – elegeu o critério c), isto é, y pode ser maior do que 12%. Porque: até 12% os juros são estipuláveis; em caso de mora, os juros estipulados (Decreto 22.626, art. 5º, verbo “contratados”) podem ser elevados de 1%, “e não mais”. Portanto: x pode ser, no máximo, 12%; y, 12% + 1% = 13%.
Portanto, e como já assinalado, o acréscimo de 1% se aplicaria somente na mora que ocorre onde já fluem juros compensatórios, de regra o mútuo, porquanto há um mero acréscimo aos juros preexistentes.
Por isso, a aplicação do art. 5º sempre foi limitada a algumas hipóteses de mora, mas não a todas. E o próprio art. 1º, que tratava basicamente de juros remuneratórios, e cujos dois primeiros parágrafos, depois revogados, também se referiam à remuneração de certas modalidades de mútuo, fazia clara alusão, no terceiro parágrafo, a juros moratórios, que seriam de 6%, quando não contratados.
Assim, sempre que não fluíssem previamente juros de natureza remuneratória, os juros moratórios podiam ser fixados em outro patamar, e a própria lei os fixava, da mesma forma como no art. 1.062 do Código Civil, em 6% ao ano, quando não contratados. Dessa forma o limite legal estabelecido pelo art. 1º passou a se aplicar tanto aos juros remuneratórios como aos moratórios.
O interessante, nas duas diferentes alternativas que resultavam da mora, é que, podendo os juros moratórios ser fixados em até 12%, mas não podendo os juros compensatórios ser acrescidos de mais de um ponto percentual quando houvesse mora, sempre que estes fossem inferiores a 11%, resultariam após a mora em montante inferior ao limite máximo.
E nem se poderá dizer, talvez até com base no magistério de Pontes de Miranda, que distinguia esses juros dos moratórios, que, além desse acréscimo, poderiam ainda ser cobrados os juros de mora, porque nessa hipótese não haveria razão para o acréscimo de um ponto percentual aos juros remuneratórios, e duas formas de juros resultariam da mora. Ademais, diz o próprio art. 5º que o acréscimo poderá ser de não mais que 1%.
Essa regra se manteve em uso ao longo do tempo, aplicando-se inclusive, e mesmo após a Lei 4.595/64 e a Súmula 596 do STF, às instituições financeiras, porque omissa a Lei da Reforma Bancária em relação aos juros moratórios.
Note-se, de qualquer maneira, que diferentes eram as regras para os juros moratórios, conforme houvesse ou não a cobrança de juros remuneratórios. E, embora à primeira vista parecesse descabido esse tratamento diferenciado, ele tem uma explicação singela: no mútuo, onde já existem juros remuneratórios, estes continuam a incidir mesmo após a mora, com o acréscimo de um ponto percentual, e por isso o próprio prosseguimento da fluência dos juros compensatórios é uma defesa contra o prejuízo que decorre do inadimplemento; contudo, onde não há juros fluindo, seria insuficiente limitar os juros moratórios em apenas 1% ao ano, porque assim evidentemente se estaria a estimular o inadimplemento.
Tomem-se, por exemplo, comparativamente, um contrato de mútuo, com juros remuneratórios de 12% ao ano, e contrato de compra e venda a prazo, em que não fluem juros até o pagamento. Havendo mora no mútuo, após o vencimento os juros serão de 13%; havendo mora na compra e venda, serão de no máximo 12%.
Tudo isso que aqui refiro vem a propósito de dois equívocos acerca da aplicação do art. 5° do Decreto 22.626/33: o primeiro é o de que ele estaria revogado pelo novo Código Civil; já o segundo consiste em uma leitura na qual o percentual da lei, ao invés de ser tomado como anual, é visto como mensal, resultando portanto em 12% ao ano.
Enfrento o primeiro. A revogação por lei posterior ocorre por uma das hipóteses do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil: declaração expressa de revogação, incompatibilidade ou regulação integral da matéria que era tratada pela lei anterior. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu. As revogações expressas que houve foram somente as do art. 2.045, e atingiram o antigo Código Civil e a Parte Primeira do Código Comercial. Também não há incompatibilidade, nem regulação integral da matéria, porque este ponto não chegou a ser enfrentado.
E incompatibilidade nem poderia haver, porque a única incompatibilidade imaginável seria a mesma que poderia ter havido entre o art. 5º do Decreto 22.626 e os arts. 1.062 e 1.063 do antigo Código Civil, e igualmente o art. 1º, § 3º, da própria Lei de Usura. Porém, como visto, por setenta anos esses dispositivos foram lidos de maneira integrada, e não é agora, quando, havendo novamente disposições específicas sobre juros moratórios e remuneratórios, que se há de ver tal incompatibilidade. Em outras palavras, o art. 406 do novo Código Civil é tão incompatível com o art. 5º da Lei de Usura quanto o poderia ter sido o art. 1.062 do antigo Código Civil, e a coerência recomenda que onde antes não se viu incompatibilidade agora igualmente não se a veja.
Por isso, a norma de interpretação que aqui deve ser considerada é a do § 2º daquele mesmo art. 2º da LICC, segundo o qual a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga e não modifica a lei anterior, razão pela qual só se há de concluir em vigor o art. 5º do Decreto 22.626/33.
Quanto ao segundo equívoco apontado, tem origem no fato de que, em sua redação, o artigo não é expresso em dizer se a elevação de 1% é anual ou mensal. Contudo, o que é ignorado por quem pensa mensal o acréscimo é o fato de que os percentuais de juros do art. 1°, assim como dos arts. 1.062 e 1.063 do antigo Código, que servem de referência à Lei de Usura, são anuais. Dessa forma, por imposição de uma leitura integrada dos dois diplomas, não é coerente imaginar-se mensal um acréscimo que se faz a juros anuais.
Aliás – e exemplo disso é a transcrição, acima feita, do pensamento de Pontes de Miranda –, não há análise doutrinária daquele artigo que autorize o entendimento de que a elevação autorizada pela lei seja superior a 1% ao ano.
Desse modo – e enquanto não houver expressa revogação do art. 5° –, outra não poderá ser a regra que não limitar em um ponto percentual anual a elevação dos juros na mora em contrato de mútuo.
PONTO 5 – A TABELA PRICE CAPITALIZA OS JUROS?
As operações de crédito são cada vez mais essenciais na economia moderna, e mesmo os consumidores finais com muita freqüência financiam suas compras, seja a aquisição de um automóvel com contrato de alienação fiduciária, seja de eletrodomésticos ou simples peças de vestuário, visto que raras são as lojas que não têm vínculo com alguma financeira.
O pagamento ocorre, como se sabe, em prestações mensais, geralmente em valor fixo e já conhecido no momento da compra, ou, mais raramente, em parcelas sobre as quais incide unicamente algum índice de correção monetária, porque previamente calculados os juros. Isso ocorre também na generalidade dos empréstimos bancários, sempre que previsto o pagamento parcelado do débito.
Para a apuração do valor das parcelas utiliza-se de regra a conhecida Tabela Price, que corresponde ao chamado sistema francês de amortização, a qual consta em qualquer programa de cálculo, bastando, para descobrir o valor da prestação, que se informe a importância financiada, a taxa de juros e o número de parcelas a pagar.
Contudo, embora se trate de um método bastante operacional, vem tendo sua validade questionada, por capitalizar os juros. Assim, a valer para as instituições de crédito o art. 4º da Lei de Usura, cuja aplicação foi reconhecida pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, e agora o art. 591 do Código Civil, seria ilícita a sua utilização. Tudo isso, evidentemente, se verdadeiro que esse sistema de apuração do valor das prestações capitaliza os juros, porque a tese vem sendo questionada, e não são poucas as decisões judiciais em que se afirma inexistir capitalização nesse método de apuração dos juros.
Aparentemente, trata-se de questão afeta à matemática financeira, e por isso deve cuidar da manifestação de peritos, antes que dos juristas; mas na discussão se utilizam também argumentos jurídicos, e por isso convém seja a matéria convenientemente posta.
A fórmula da Tabela Price é:
p = c [(1 + i)n . i] / [(1 + i)n – 1]
Nela, p corresponde ao valor da prestação, c corresponde ao valor do capital, i à taxa de juros contratada e n ao período, ou número total de parcelas.
Veja-se que há na fórmula operações exponenciais, expressas em (1 + i)n, regra esta utilizada para a apuração de juros capitalizados. Se, por exemplo, se quiser calcular a taxa de juros de um ano, a juros de 1% ao mês, com capitalização mensal, a operação será (1 + 0,01)12, portanto 1,1268. Excluída a unidade, que corresponde ao valor do capital, os juros finais serão de 0,1268, ou 12,68%.
Sendo a função exponencial indicadora de capitalização, argumentam alguns, para responder a essa evidência, que ela está incluída tanto no numerador como no denominador, e por isso é neutralizada. Teoricamente, a tese não tem consistência, mas deixo para os matemáticos a sua refutação. De qualquer maneira, o certo é que os juros são sempre lançados por ocasião do pagamento de cada parcela, e antes do lançamento desta, o que justamente indica essa cumulação, própria da função exponencial.
Outro argumento é de maior sedução: diz-se que, mesmo ocorrendo isso, o valor da prestação é sempre superior aos juros lançados, de modo que estes ficam integralmente quitados no pagamento da parcela, evitando a capitalização porque não ocorre a incidência de juros sobre juros. Para ilustrar o raciocínio, é com freqüência utilizado um exemplo, com pequeno número de parcelas. Usemos semelhante exemplo, dada a seguinte situação: empréstimo de R$ 12.000,00, para pagamento em doze parcelas mensais, a juros de 1% ao mês. Nesse caso, utilizada a Tabela Price, a prestação mensal será de R$ 1.066,19, e a amortização se dará conforme o seguinte quadro:
| Período | Saldo | Juros | Parcela | Amortização |
| 1 | 12.000,00 | 120,00 | 1.066,19 | 946,19 |
| 2 | 11.053,81 | 110,54 | 1.066,19 | 955,65 |
| 3 | 10.098,16 | 100,98 | 1.066,19 | 965,21 |
| 4 | 9.132,95 | 91,33 | 1.066,19 | 974,86 |
| 5 | 8.158,09 | 81,58 | 1.066,19 | 984,61 |
| 6 | 7.173,48 | 71,73 | 1.066,19 | 994,46 |
| 7 | 6.179,02 | 61,79 | 1,066,19 | 1.004,40 |
| 8 | 5.174,62 | 51,75 | 1.066,19 | 1.014,44 |
| 9 | 4.160,18 | 41,60 | 1.066,19 | 1.024,59 |
| 10 | 3.135,59 | 31,36 | 1.066,19 | 1.034,83 |
| 11 | 2.100,76 | 21,01 | 1.066,19 | 1.045,18 |
| 12 | 1.055,58 | 10,56 | 1.066,14 | 1.055,18 |
Vê-se, portanto, que o valor das parcelas é sempre superior ao valor dos juros lançados, que assim são totalmente pagos. E diz-se que são totalmente pagos com base na regra do art. 354 do Código Civil (art. 993 do Código de 1916), segundo a qual, no pagamento parcial, imputa-se o pagamento primeiro aos juros e depois ao capital. Voltarei depois a esse argumento.
No entanto, se isso fosse verdadeiro, nunca haveria capitalização de juros quando contratado pagamento parcelado, porque sempre, quando há financiamento para pagamento em prestações, o valor da prestação é superior aos juros do período. E isso, por uma razão muito simples: se o valor da prestação não for maior que os juros, mas somente igual, a dívida se perpetuará no valor original; se a prestação foi inferior aos juros, o saldo devedor crescerá indefinidamente, e em proporção geométrica, porque exponencial a função e lançados os juros simultaneamente aos pagamentos.
Assim, como é da natureza do financiamento com pagamento parcelado que o valor da parcela seja superior aos juros do período, seria impossível a ocorrência de capitalização, porque, sendo a cada parcela integralmente pagos os juros vencidos, nunca haveria juros sobre juros.
O problema dessa tese é que ela parte de um equívoco conceitual, segundo o qual a capitalização somente ocorre quando existe a incidência de juros sobre juros já vencidos que possam ser bem identificados e destacados do capital. Assim, por exemplo, haveria capitalização, ou juros sobre juros, se, de um empréstimo inicial de 10, a 10%, incidisse duas vezes a taxa aplicada, antes de ocorrer amortização, de modo que na primeira o débito se elevaria a 11 e na segunda a 12,1, situação em que, no último acréscimo, 1 corresponderia a juros sobre o capital e 0,1 a juros sobre juros; mas, não haveria capitalização se, no mesmo exemplo, logo que pela primeira vez incidissem os juros, fosse paga uma parcela igual a 1, que serviria para pagar integralmente os juros lançados e manter o débito em 10, de modo que os próximos juros lançados seriam novamente de 1, e corresponderiam unicamente a juros sobre o capital.
Nesta segunda hipótese, que pode ser expressa como capital mais juros menos prestação (c + j – p), ou 10 + 1 – 1, não é por j ser igual a p que se poderá dizer que não ocorreu capitalização: o acréscimo de juros ao capital ocorreu, e da soma, 11, foi tirado 1, de modo que se retornou a 10. Na prática, como já explicado, p deve ser superior a j, porque somente assim ocorre a amortização. Poderíamos então imaginar uma operação nos seguintes termos: 10 + 1 – 1,5 = 9,5; mas, sempre teríamos de ter claro que, para que a prestação 1,5 representasse amortização de apenas 0,5, houve o lançamento de um valor positivo 1, correspondente a juros. É irrelevante, para dizer que ocorreu capitalização, saber se houve o pagamento de prestação e que ela foi no mínimo igual aos juros; a capitalização resulta clara da simples circunstância de que a prestação serviu apenas em parte para amortizar o débito, porque o restante foi destinado a pagar os juros já lançados.
Por isso, não é de rigor dizer que capitalizar juros significa contar juros de juros, porque a capitalização ocorre antes mesmo que novos juros venham a incidir sobre os juros já lançados; ela incide já no momento em que pela primeira vez ocorre o acréscimo de juros ao capital. Se são pagos em seguida, mesmo assim se transformaram em capital.
É claro que, para que a refutação seja completa, temos de enfrentar o argumento de que, no pagamento parcial, consideram-se primeiro pagos os juros e somente depois o principal, e que, por isso, nunca remanescem juros para uma parcela seguinte. Embora o argumento não tenha, como visto, consistência matemática, poderia se sustentar na regra do art. 354 do Código Civil, que trata da imputação de pagamento quando há capital e juros, hipótese em que o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital.
Aqui, todavia, surge o segundo equívoco: ignora quem assim argumenta que a imputação de pagamento ocorre na hipótese de pagamento parcial de dois ou mais débitos da mesma natureza (aqui os dois débitos são capital e juros) líquidos e vencidos. Ora, no pagamento em prestações, os débitos podem ser líquidos, mas não são todos vencidos, porque as prestações vencem uma a uma, sucessivamente. Então, nunca a prestação corretamente paga poderá ser considerada parcial, porque o pagamento da parcela vencida é integral.
Na verdade, ocorrendo pagamento em prestações, a regra é outra, e está no art. 6º da Lei de Usura, que é o instrumento legal adequado para melhor traduzir a negativa do art. 591 do novo Código em permitir capitalização por períodos inferiores a um ano.
Segundo o referido artigo, quando se trata com operações com prazo superior a seis meses, e os juros forem pagos por antecipação, o cálculo deve ser feito de modo que a importância dos juros não exceda a que produziria a importância líquida da operação no prazo convencionado, às taxas máximas permitidas por aquela lei. É claro que, como trato em outro ponto, já não há considerar em vigor o art. 1º do Decreto, que tratava da taxa máxima, mas a regra hermenêutica é clara.
Há uma maneira muito simples de se pagarem as parcelas sem que ocorra capitalização; e por isso é comum vê-la ser proposta. Basta dividir o valor total pelo número de parcelas a pagar e acrescer a cada uma juros iguais aos que incidem pelo tempo necessário para o seu pagamento, de modo que cada parcela pagará exatamente os juros referentes ao capital ali amortizado. Disso resultarão, todavia, prestações crescentes (no exemplo acima, R$ 1.010,00, R$ 1.020,00, R$ 1.030,00, e assim sucessivamente). Essa sistemática, embora de fácil apuração, apresenta inconvenientes, porque não se tem a segurança das parcelas fixas e porque, em financiamentos com longo prazo para pagamento, pode tornar excessivamente onerosas as últimas parcelas. Talvez por esse motivo, trata-se de fórmula não utilizada em matemática financeira.
Por isso, é de se buscar uma alternativa que mantenha fixo o valor das prestações. E o modo correto para se apurarem juros não capitalizados, com prestações em valor fixo, é aplicar o total de juros sobre o capital e aplicar sobre cada uma das parcelas pagas juros proporcionais, considerado o tempo que falta para a quitação, e creditá-los ao mutuário. Dessa forma, no mesmo exemplo, aplicaríamos 12% sobre o capital financiado, o que somaria R$ 13.440,00, e 11% sobre a primeira parcela paga, 10% sobre a segunda, 9% sobre a terceira, e assim sucessivamente. Assim procedendo, os juros lançados sobre as parcelas pagas compensam, na proporção do pagamento efetuado, os juros lançados sobre a totalidade do valor financiado.
A fórmula para a sistemática, de natureza linear, é a seguinte:
p = c.[1 + (i . n)]
n + i .
No presente caso, no numerador se multiplicará 12.000,00 (capital) pela unidade (1) acrescida da multiplicação entre 0,01 (taxa de juros) e 12 (número de parcelas), portanto 12.000,00 multiplicado por 1,12, ou seja, 13.440,00. Já no denominador se somará 12 (número de parcelas) à multiplicação entre 0,01 (taxa de juros) e 66 (somatório das parcelas até a penúltima, portanto de 1 a 11). Não são somadas 12 parcelas porque a primeira prestação é paga após já decorrido um mês, e por isso soma 11 (uma unidade a menos que o total de prestações) e, a juros de 1% ao mês, totaliza somente 11%; já a última serve para quitar o débito, e por isso não tem acrescidos juros, sendo zero o seu valor. Assim, no presente exemplo o denominador soma 12,66, e o quociente será igual a 1.061,61.
Portanto, o valor da prestação, ligeiramente menor que o daquela apurada pela Tabela Price, de R$ 1.066,19, será de R$ 1.061,61, conforme quadro que segue:
| Capital e parcelas | % juros | Total juros | Débito | Crédito |
| 12.000,00 | 12 | 1.440,00 | 13.440,00 | |
| 1.061,61 | 11 | 116,78 | 1.178,39 | |
| 1.061,61 | 10 | 106,16 | 1.167,77 | |
| 1.061,61 | 9 | 95,54 | 1.157,15 | |
| 1.061,61 | 8 | 84,93 | 1.146,54 | |
| 1.061,61 | 7 | 74,31 | 1.135,92 | |
| 1.061,61 | 6 | 63,70 | 1.125,31 | |
| 1.061,61 | 5 | 53,08 | 1.114,69 | |
| 1.061,61 | 4 | 42,46 | 1.104,07 | |
| 1.061,61 | 3 | 31,85 | 1.093,46 | |
| 1.061,61 | 2 | 21,23 | 1.082,84 | |
| 1.061,61 | 1 | 10,62 | 1.072,23 | |
| 1.061,63 | 0 | 0,00 | 1.061,63 | |
| Soma | 13.440,00 | 13.440,00 |
Os diferentes resultados que advêm das duas tabelas decorrem do fato de que na primeira os juros são lançados mensalmente, enquanto na última são lançados somente ao final, inclusive sobre as parcelas pagas, o que é feito pro rata, considerado o tempo decorrido desde cada pagamento. Na primeira sistemática, consideram-se os juros vencidos mês após mês, como se a cada parcela paga vencesse integralmente a dívida e ocorresse novo financiamento do valor amortizado; na segunda, eles se consideram vencidos somente ao final.
Note-se que a correção dos valores assim apurados pode ser aferida igualmente pelo método hamburguês, que, utilizado para apurar o saldo médio da conta corrente, não capitaliza juros. Nesse caso, o procedimento é o que segue, e a parcela do último mês, R$ 1.061,63, corresponde exatamente à soma entre o valor ainda não abatido do capital, R$ 322,29, e os juros que resultam do valor, proporcionalmente apurado após cada pagamento, do saldo que resta após cada prestação paga.
| Parcela | Prestação | Saldo | Total juros | Juros mês |
| 0 | 12.000,00 | |||
| 1 | 1.061,61 | 10.938,39 | 120,00 | |
| 2 | 1.061,61 | 9.876,78 | 109,38 | |
| 3 | 1.061,61 | 8.815,17 | 98,77 | |
| 4 | 1.061,61 | 7.753,56 | 88,15 | |
| 5 | 1.061,61 | 6.691,95 | 77,54 | |
| 6 | 1.061,61 | 5.630,34 | 66,92 | |
| 7 | 1.061,61 | 4.568,73 | 56,30 | |
| 8 | 1.061,61 | 3.507,12 | 45,69 | |
| 9 | 1.061,61 | 2.445,51 | 35,07 | |
| 10 | 1.061,61 | 1.383,90 | 24,46 | |
| 11 | 1.061,61 | 322,29 | 13,84 | |
| 12 | 1.061,63 | 739,34 | 3,22 |
Têm-se, portanto, duas diferentes fórmulas para apurar prestações em valor constante, e o resultado de sua aplicação é muito diferente, o que não poderia ocorrer se em nenhuma delas houvesse capitalização. Com efeito, juros sem capitalização só podem resultar em um único valor. Como o método hamburguês sabidamente evita a capitalização, ele pode ser tomado como critério de comprovação de que a Tabela Price capitaliza e de que a fórmula aqui apresentada apura corretamente o valor das prestações não submetidas à capitalização. Por isso, e na falta de outra designação, a chamarei de Fórmula Hamburguesa.
Quando há previsão de capitalização após um certo período, também é possível apurar o valor das parcelas, embora a operação seja mais complexa: a Tabela Price serve para apurar o valor que resultará da soma de todas as prestações, mais juros correspondentes, dentro de cada intervalo sem capitalização, e a Fórmula Hamburguesa serve para apurar o valor de cada parcela. Nesse caso, podem-se fazer duas operações, utilizando-se primeiro a Tabela Price e depois a outra tabela, ou então podem-se fundir as duas fórmulas, da seguinte maneira, considerado n o número total de parcelas e g o número de parcelas sem capitalização:
p = c {[1 + (i . g)]n/g . i . g} / {[1 + (i . g)]n/g – 1}
[g + (i . )]
Vejamos, mais uma vez com o valor, taxa e parcelas acima estabelecidos, como se procederia se houvesse capitalização trimestral. Pelo cálculo da Tabela Price, se apurará por trimestre o total de R$ 3.228,32; como a primeira e segunda parcelas pagas dentro de cada trimestre rendem juros de, respectivamente, 2% e 1%, calculam-se as parcelas mensais pela Fórmula Hamburguesa, que evita a capitalização, e se chegará a R$ 1.065,45. O resultado está no seguinte quadro:
| Capital e parcelas | % juros | Total juros | Débito | Crédito |
| 12.000,00 | 3 | 360,00 | 12.360,00 | |
| 1.065,45 | 2 | 21,31 | 1.086,76 | |
| 1.065,45 | 1 | 10,65 | 1.076,10 | |
| 1.065,45 | 0 | 0,00 | 1.065,45 | |
| Saldo devedor após capitalização | 9.131,69 | |||
| 9.131,69 | 3 | 273,95 | 9.405,64 | |
| 1.065,45 | 2 | 21,31 | 1.086,76 | |
| 1.065,45 | 1 | 10,65 | 1.076,10 | |
| 1.065,45 | 0 | 0,00 | 1.065,45 | |
| Saldo devedor após capitalização | 6.177,33 | |||
| 6.177,33 | 3 | 185,32 | 6.362,65 | |
| 1.065,45 | 2 | 21,31 | 1.086,76 | |
| 1.065,45 | 1 | 10,65 | 1.076,10 | |
| 1.065.45 | 0 | 0,00 | 1.065,45 | |
| Saldo devedor após capitalização | 3.134,34 | |||
| 3.134,34 | 3 | 94,03 | 3.228,37 | |
| 1.065,45 | 2 | 21,31 | 1.086,76 | |
| 1.065,45 | 1 | 10,65 | 1.076,10 | |
| 1.065,51 | 0 | 0,00 | 1.065,51 | |
| Saldo Final | 0,00 | |||
Convém registrar que há dificuldades práticas na utilização dessa sistemática, e por isso não há senão afirmar a maior praticidade da Tabela Price. Não existe, a propósito, nenhuma razão para afastar a utilização desta, exceto a disposição legal, ou interpretação jurisprudencial, que impede a capitalização dos juros. O próprio fato de as parcelas resultarem superiores na Tabela Price não é em si um problema, porque, para isso, basta ser reduzido o percentual da taxa efetiva. A utilização dessa forma de cálculo nos financiamentos habitacionais é uma prova disso.
Por outro lado, a apuração do valor das prestações por juros não capitalizados tem a grande vantagem de assegurar tenha o mutuário certeza sobre a taxa praticada, o que não ocorre com a Tabela Price, na qual o conhecimento da taxa mensal é insuficiente para que seja igualmente conhecida a taxa anual, porque não resulta de simples multiplicação por 12.
A questão é, de qualquer maneira, decidir se cabe a capitalização ou não; porém, se prevalecer o entendimento de que a capitalização em períodos inferiores a um ano é ilícita, não há como considerar lícita a utilização da Tabela Price.
PONTO 6 – A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
A mais famosa lenda sobre o aparecimento do xadrez é a que o atribui a Sissa, brâmane ou filósofo indiano. Teria ele inventado o jogo de xadrez a fim de curar o tédio do enfastiado rei Kaíde. Como este lhe houvesse prometido a recompensa que desejasse, Sissa pediu um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta e assim sucessivamente, dobrando a quantidade, até chegar à 64ª casa. O rei ficou espantado perante um pedido que lhe pareceu tão humilde; e acedeu imediatamente à aparente insignificância da petição. Mas… feitos os cálculos, verificou-se que todos os tesouros da Índia não eram suficientes para pagar a recompensa pedida.
O número de grãos que Sissa tinha pedido corresponde à fórmula 264-1, ou seja:
18 446 744 073 709 551 615
Esse número constitui um exemplo dos chamados números monstruosos. Tente-se avaliar o que ele significa, pelo seguinte: para contar de um até esse número (‘um, dois, três’, etc.) – trabalhando 24 hora por dia, e supondo que se demorasse só um segundo para cada um dos números consecutivos – seriam necessários 58.454.204.609 séculos, isto é, quase sessenta bilhões de séculos!
O tesoureiro da coroa achou que seriam necessárias 16.384 cidades, que cada uma delas tivesse 1.024 celeiros de 174.762 medidas cada um, e com 32.768 grãos cada medida. Um celeiro único para tamanha quantidade de trigo equivale a um cubo com mais de um quilômetro de lado.
Diz a Enciclopédia Espasa a respeito: para obter tal quantidade de grãos de trigo – seria preciso semear 76 vezes todos os continentes da terra!
Paluzie dá, de outra forma, uma idéia de número tão prodigioso: ‘O hectolitro de trigo contém, em média 1.530.000 grãos; a colheita de trigo na Espanha (refere-se ao ano de 1909) foi de uns 50 milhões de hectolitros; pois bem, de acordo com esses dados, para plantar na íntegra a dívida do rei indiano, não bastaria todo o trigo colhido atualmente na Espanha e acumulado durante 240.000 anos’.
A quantidade pedida seria suficiente para cobrir toda a superfície da terra com uma camada de trigo de 2cm de altura.
Os aficionados do xadrez devem saber que quem escreveu até este ponto foi Idel Becker, que há mais de 50 anos nos conta esta deliciosa história, em seu Manual de Xadrez.
Já o leitor por certo há de ter entendido a razão para que aqui se fizesse essa transcrição. Basta substituir o rei Kaíde por um mutuário que tomasse emprestado R$ 1,00 para devolver R$ 2,00 ao final de um mês, ou, caso não conseguisse fazê-lo, R$ 4,00 ao final do segundo mês, e assim sucessivamente. Se por alguma razão o desafortunado mutuário não pagasse o empréstimo nos primeiros meses, acabaria por não mais conseguir fazê-lo, e, decorridos 64 meses, pouco mais de cinco anos, estaria devendo, além do real que tomou emprestado, R$ 18.446.744.073.709.551.615,00, importância que, mesmo em moeda brasileira, e não em dólares ou euros, corresponde a milhares de vezes a riqueza de todas as nações somada.
O exemplo pode parecer absurdo, porque corresponde a juros de 100% ao mês, mensalmente capitalizados. Mas não é preciso ir tão longe; basta tomarmos os juros mensais de 10% sobre o saldo devedor das contas correntes, usualmente praticados por instituições bancárias, que são lançados na conta ao final de cada mês, e portanto capitalizados. Assim fazendo, e tomado um débito inicial de R$ 1.000,00, chegaremos ao final de 64 meses, tempo que não é exagerado se considerarmos o período que transcorre entre o momento em que o correntista se vê impossibilitado de pagar, passando pelo ajuizamento da ação e por vários momentos processuais e recursos, e o final ajuizamento da execução de sentença, ao valor de R$ 445.791,56, evidentemente impagável para quem não conseguiu pagar o valor que devia ao início.
Quem tem algum contato com a realidade forense por certo já viu ocorrerem situações como esta, não obstante o absurdo e evidente abuso dessa importância. Fique, contudo, claro que esse número não surgiu por mágica, mas por acolhida a tese de que pacta sunt servanda, e que 10% ao mês, capitalizados, são juros de uso comum por instituições financeiras, que captam seus recursos também com taxas elevadas, e por isso não podem deixar de fixar tal valor.
Alguns magistrados, antevendo as conseqüências acima assinaladas, tomam decisões em que, criativamente, afirmam que as taxas contratadas valem somente para o período de normalidade contratual e que, após configurado o inadimplemento, elas devem ser substituídas pelos juros de mora. Tal solução evita o problema maior, de se chegar ao final a uma dívida impagável, mas decorre de um equívoco lógico que, por insustentável, não raro enseja reforma em grau recursal.
Com efeito, a par de não existir base legal para dizer que os juros remuneratórios não podem ser cumulados com os moratórios, é ilógico entender a mora como tábua de salvação do devedor, porque, como infração contratual, dela devem decorrer sanções, e não benesses.
Vejam-se as conseqüências do raciocínio atacado: se, contratando alguém o pagamento de juros de 10% ao mês, não os pagar, após o vencimento já não necessitará pagar tal percentual, mas apenas uma multa de 2% e juros de 1% ao mês. Nessas condições, as cláusulas moratórias, que deveriam servir como desestímulo ao inadimplemento, são a tábua de salvação do devedor, porque o julgador não soube atacar de frente o problema, com a redução dos juros originalmente fixados.
O que deve ser entendido é que a conjugação de juros elevados com capitalização leva sempre, em curto tempo, à impossibilidade de pagamento e, por sua abusividade, precisa ser afastada.
Há, todavia, um aspecto que não é percebido: quando os juros são baixos, mesmo a capitalização mensal não chega a aumentar significativamente o débito; quando são altos, ainda que incida somente uma vez ao ano, a capitalização tem um efeito multiplicador do débito.
Voltemos ao nosso exemplo. Já sabemos que o débito será ao final, se aplicados juros de 10%, com capitalização mensal, de R$ 445.791,56. Se os mesmos juros tiverem capitalização anual, teremos ao final de 64 meses uma dívida de R$ 72.150,84; se não capitalizarem, ela será de R$ 7.400,00. Neste exemplo, a razão entre o resultado da capitalização mensal e o da capitalização anual é de 6,18, e a razão entre o resultado da capitalização anual e a não-capitalização é bem superior: 9,75. Essa significativa diferença ocorre porque a capitalização, mesmo quando anual, torna geométrica a progressão, ao contrário da progressão aritmética dos juros simples.
E por essa razão, quando reduzidos os juros, diminui significativamente a diferença entre juros simples e juros capitalizados. Tomemos mais uma vez o nosso devedor, mas suponhamos serem de 1% ao mês os juros. Se forem simples, pagará ao final de 64 meses um total de R$ 1.640,00; se capitalizarem anualmente, pagará R$ 1.832,83; se capitalizarem mensalmente, o valor será de 1.890,46. Neste caso, como se vê, a capitalização anual tem resultado muito aproximado da capitalização mensal.
Menciono esse aspecto porque, a par da discussão jurídica sobre a possibilidade ou não de capitalização, e subjacente a ela, talvez mais do que isso, conduzindo-a, há uma discussão ideológica.
Trata-se do entendimento, fortemente arraigado, de que a capitalização é em si uma perversão. Essa concepção guarda por certo uma estreita relação com a visão que se tem do capital financeiro, a cada ano confirmada e realimentada pela publicação dos seus balanços, como o setor da economia que mais lucra, em detrimento das atividades produtivas, e paralelamente à manutenção na pobreza de parcela significativa da população.
Mas, esse fato não pode levar a que seja descurada uma análise objetiva da situação e se ignore que a economia necessita do capital financeiro, porque é por meio dele que são mobilizados os recursos necessários ao investimento.
Tomemos, então, desapaixonadamente a questão da capitalização. Já assinalei acima que ela não é em si ruim, e que somente se torna deletéria se associada a juros altos. Aliás, é interessante assinalar que ela está presente, e autorizada pela lei para período inferior a um ano, em duas formas de mútuo de grande importância social.
A primeira delas é a das cédulas e notas de crédito rural, industrial e comercial, que vencem juros em períodos inferiores a um ano, conforme expressa autorização legal (art. 5º do Decreto-Lei 167/67, art. 14, VI, do Decreto-Lei 413/69 e art. 5º da Lei 6.840/80) e, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, podem capitalizar inclusive mensalmente.
A segunda é dos contratos de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, conforme estabelecido pela Lei 8.692/93. Ninguém há de negar que esse dispositivo revela uma forte preocupação com a proteção do mutuário no financiamento habitacional, mesmo porque a finalidade do empréstimo é a aquisição de bem que atende a uma necessidade fundamental.
Pois bem, o art. 25 da Lei diz que a taxa efetiva anual de juros não poderá ultrapassar 12%. Veja-se que ao dizer taxa efetiva, a lei autoriza a capitalização mensal, mas desde logo impede que ultrapasse 0,949% ao mês. Essa sistemática resulta em parcela ligeiramente superior à que decorreria de juros de 1% ao mês sem capitalização.
Nesta última Lei, parece claro que a autorização à capitalização mensal tem relação com a possibilidade de utilização das diferentes tabelas de apuração do valor da prestação, seja a Price, sejam a SAC ou a SACRE.
Já o Código de Defesa do Consumidor, que em nenhum momento trata diretamente da matéria, parece ele próprio admitir e, mais que isso, ter como fato dado, a capitalização em intervalos inferiores a um ano, à medida em que, no inciso II do artigo 52, estabelece que, na outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá informá-lo prévia e adequadamente sobre o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.
Por outro lado, é sabido que todos os investimentos financeiros recebem capitalização a intervalos menores, e isso ocorre igualmente com contas referentes a benefícios do trabalhador, como PIS-PASEP, FAT e FGTS, e com instrumentos de poupança popular, como a caderneta de poupança.
Na verdade, a capitalização é inerente à lógica do sistema, dada a sua estreita relação com a realização dos investimentos. Com efeito, se os empréstimos por prazos menores melhor satisfazem o dono do dinheiro, porque tem o retorno em menor tempo, e assim pode reaplicá-lo, ao contratar dessa forma capitaliza os juros recebidos no momento da quitação, e pode efetuar novo empréstimo de valor maior; se outro banqueiro empresta por prazo maior, a única maneira de obter igual remuneração com o uso de idêntica taxa é contratar a capitalização com periodicidade que coincida com o pagamento recebido pelo primeiro mutuante. De outra forma, um mutuante que emprestasse um determinado valor por períodos de um mês durante doze meses seria melhor sucedido que aquele mutuante que emprestasse o mesmo valor pelo período de um ano, mesmo que os juros anuais equivalessem a doze vezes os juros mensais cobrados por aquele.
E com mais razão isso se coloca, nestes tempos em que a cada vez maior agilidade dos negócios financeiros faz pensar pré-históricos os negócios que se realizavam à época do Código Civil de 1916 ou da Lei de Usura.
Por isso, é impensável que o sistema financeiro possa ainda operar sem que tenha a possibilidade de utilizar o instrumento da capitalização, que está presente em todas as operações bancárias, está presente nas resoluções do Banco Central e está presente na Taxa SELIC, com capitalização inclusive diária.
Veja-se, a propósito, o que diz o Banco Central, em documento que propõe medidas para a redução das taxas de juros:
esclarecimento sobre anatocismo (juros sobre juros) no SFN – uma das razões freqüentes alegadas pelos devedores de má-fé em processos judiciais refere-se ao artigo 4º da antiga e não revogada Lei da Usura (Decreto 22.626 de 1933), que veda a capitalização de juros nos empréstimos. No SFN e nos sistemas financeiros de todo o mundo, a prática é a capitalização dos juros, tanto na captação quanto na aplicação de recursos das instituições financeiras. Em função do dispositivo no artigo 192 do texto constitucional, muitos tribunais vêm dando ganho de causa a devedores que alegam a validade de dispositivo do Decreto 22.626/33 que trata da não capitalização dos juros. Por isso o BC deve propor a expressa derrogação do artigo que trata da capitalização dos juros, reforçando o entendimento já expresso na Lei 4.595/64.
E note-se que há um equívoco no texto do Banco Central, porque, se os Tribunais continuam decidindo que é vedada a capitalização, isso acontece porque ela não foi expressamente autorizada pela Lei 4.595/64.
Sendo de 1999 este estudo, em seguida veio uma Medida Provisória (1.963-17, de 30 de março de 2000), que autorizou às instituições financeiras a capitalização de juros por períodos inferiores a um ano (“Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”).
De início, houve divergências sobre a aplicabilidade do dispositivo; sua validade foi reconhecida em acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas houve também decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dizendo inconstitucional a MP, porque despida dos requisitos de relevância e urgência.
Mas, parece que esse argumento perdeu força, porque, em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, a Medida Provisória, agora sob o número 2.170-36, teve sua validade assegurada pelo poder constituinte derivado, razão por que se torna questionável a alegação de que lhe falta relevância ou urgência.
Pode-se ainda sustentar que a norma não tem valor, porque não resulta de lei complementar. Porém, esse argumento não parece suficiente, na medida em que diversas outras leis, inclusive, como já consagrado, o Código de Defesa do Consumidor, incidem sobre contratos bancários. Ademais, se se considerar o entendimento de que o constituinte não deseja a limitação dos juros por lei, esse argumento ficará esvaziado.
Há também o argumento de que a norma é inválida por ter sido incluída em Medida Provisória cuja finalidade declarada foi dispor sobre a administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional. Dessa forma, e por ser matéria estranha ao diploma legal que a contém, contraria o art. 7º, I e II, da Lei Complementar 95/98, que veda a inclusão em lei de matéria a ela estranha.
No Superior Tribunal de Justiça, parece consolidado o entendimento de que, após a Medida Provisória, cabe a capitalização.
De qualquer maneira, seja porque se percebe que a legislação avança para isso, seja pelo seu uso consagrado no mercado, é necessário que a capitalização seja desestigmatizada, para que seja permitida sua cobrança em menores períodos. A coibição do abuso pode prescindir do afastamento da capitalização, cuidando-se apenas de que os juros não sejam tão elevados. Com isso, não apenas se afastará a polêmica sobre a licitude da Tabela Price, como igualmente se deixará de discutir a possibilidade de lançamento mensal dos juros em contas correntes bancárias, por inobservância ao art. 4° do Decreto 22.626/33. A propósito, parece bizantina a discussão sobre a possibilidade de capitalizar apenas anualmente os juros em contrato de conta corrente, como se a previsão de capitalização anual não fosse hoje totalmente impraticável e até absurda; mas, e a despeito das teses segundo as quais o contrato de conta corrente de que trata a Lei de Usura tem natureza distinta, é isso que ainda dispõe a lei.
Porém, para evitar remanesça qualquer querela, nada impede que o próprio Código Civil tenha reconhecida a possibilidade de capitalização, mesmo porque não há motivo para que seja autorizada somente para instituições financeiras. Basta a inserção de dois parágrafos no art. 591 do Código de 2002, mais ou menos nos seguintes termos:
- 1° – quando o contrato prever o pagamento de amortizações em períodos inferiores, será permitida a capitalização dos juros nas datas previstas para pagamento;
- 2° – nos créditos em contas correntes e cartão de crédito, é lícita a cobrança mensal de juros.
Com certeza, nenhum contrato se tornará incumprível com norma desse tipo, e nem se terá menos instrumentos para afastar disposições efetivamente potestativas, porque estas se arredam a partir de uma análise séria das causas para a fixação dos juros em determinado patamar e dos efeitos que disso resultam.
Mas, não só se estará afastando empecilhos anacrônicos ao bom funcionamento do sistema financeiro, que, a propósito, há muitos anos, e a despeito dos julgamentos em contrário, já os eliminou de sua prática, como igualmente se afastará do Judiciário um ponto de permanente desavença, elemento fomentador de decisões díspares, que apenas ajudam a abarrotar suas prateleiras e contribuir para sua perda de credibilidade.
PONTO 7 – A PRESTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO: REFUTANDO UM FALSO DIAGNÓSTICO
Com freqüência cada vez maior, o Judiciário vem sendo defrontado com ações movidas por mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, nas quais são feitas várias postulações de alterações nas condições dos contratos. Uma delas diz respeito ao que nas ações é comumente designado de Tabela Price, que mais precisamente é a sistemática de amortização adotada, a do Sistema Francês de Amortização.
Buscam as ações a substituição desse modo de amortização, dito ilegal e especialmente oneroso ao devedor, e sua substituição por um modo de amortização em que não haja capitalização dos juros.
A jurisprudência sobre a matéria é ainda vacilante, e tanto se vêem decisões favoráveis a tais pleitos como decisões que os rejeitam. Dúvida parece não haver sobre a enfermidade do paciente, mas não se chegou ainda a um acordo mínimo sobre o diagnóstico. E, no que se refere à Tabela Price, há claras conseqüências no seu afastamento, porque disso resulta redução, mais ou menos significativa, no valor das prestações.
Isso não deixa de me causar um certo embaraço, na medida em que a perspectiva deste trabalho é a de sustentar a legalidade dessa sistemática de amortização. Por outro lado, não me sinto confortável quando vejo uma tese ser adotada como verdadeira, embora falsa seja, pelos resultados favoráveis que dela advirão. Considero até compreensível que isso ocorra, notadamente quando a parte mais fraca se encontra em situação desfavorável. Contudo, a certeza da doença não autoriza a adoção de qualquer diagnóstico e, em decorrência, de qualquer tratamento, e, ainda que a objetividade absoluta seja impossível, a exata compreensão de um fenômeno é essencial para que se encontrem as soluções adequadas.
É o que pretendo fazer, com a vênia dos cada vez mais numerosos defensores da ilegalidade da Tabela Price para a apuração das prestações em financiamentos habitacionais.
- As alternativas ao uso da Tabela Price
Abstenho-me de aqui discutir se a Tabela Price capitaliza mensalmente juros, o que fiz em outro lugar, e desde logo tenho como certo que efetivamente as prestações assim calculadas servem para pagar juros capitalizados mês a mês. Nesse ponto não tenho, portanto, nenhuma divergência com os detratores desse modo de apurar o valor da prestação.
Antes, todavia, de discutir a ilegalidade propriamente dita, analiso as alternativas possíveis à capitalização mensal, que resumo em duas: a capitalização apenas anual dos juros ou a inexistência de capitalização até o final do prazo para pagamento.
Para ambas as alternativas, que comparo com os resultados da Tabela Price, parto de uma mesma situação hipotética: financiamento de R$ 100.000,00 para pagamento em vinte anos, prazo que, embora menos freqüentemente utilizado que o de quinze anos, melhor permite realçar determinadas tendências. Desconsidero os acréscimos que incidem sobre as parcelas, decorrentes de seguro e outros acessórios, bem como a correção monetária, que é irrelevante para o resultado. Considero a taxa efetiva de juros de 12% ao ano, que, em sendo a máxima taxa efetiva anual, impõe, com a Tabela Price, juros mensais de 0,949%, mas permite, quando não capitalizados os juros, ou capitalizados apenas anualmente, seja de 1% a taxa mensal.
Nesse exemplo, o valor da prestação, apurado pela Tabela Price, será de R$ 1.058,62; já com juros de 1% ao mês e capitalização anual, será de R$ 1.057,49. Haverá, portanto, uma redução de R$ 1,13, ou 0,107%, no valor da prestação. Esta é a diferença entre o valor que resulta da taxa efetiva anual de 12% da Tabela Price e o resultante da taxa anual de 12%, portanto de 1% ao mês, quando apenas anual a capitalização.
Assim, chega-se a uma primeira conclusão: se considerarmos a Tabela Price especialmente perversa, teremos de convir que ela é apenas ligeiramente mais perversa a capitalização anual dos juros, considerada a mesma taxa anual; todavia, em sentido inverso, se pensarmos que juros de 12% ao ano, com capitalização anual, não podem ser considerados perversos – afinal, não é isso que se pede em inúmeras ações ajuizadas com a finalidade de reduzir os juros bancários? –, a conclusão será a de que igualmente a Tabela Price não resulta em oneração excessiva do devedor.
Tomemos, contudo, a segunda alternativa: nenhuma capitalização ao longo de 20 anos. Tal hipótese poderia se justificar com base no entendimento de que somente agora, com o art. 591 do novo Código Civil, é que se autoriza a capitalização anual no mútuo, porque a outra fonte legal que se admitia a capitalização anual, o art. 4º da Lei de Usura, mencionava apenas a possibilidade de que ocorresse em conta corrente.
Nesse caso, o valor da prestação seria muito menor: R$ 645,41, numa redução de R$ 413,21, ou 39,03%. Trata-se, portanto, de uma prestação bem mais favorável, e, agora sim, se estaria a demonstrar o quanto a Tabela Price prejudica o mutuário. Em comparação, para que resultasse da Tabela Price prestação desse valor, considerado sempre um empréstimo de R$ 100.000,00 e 240 meses para pagamento, teria de ser utilizada uma taxa de juros mensal de aproximadamente 0,395%, que corresponde a uma taxa efetiva de 4,84% ao ano.
Mas, não estaremos esquecendo que a principal fonte de captação para empréstimos habitacionais é a caderneta de poupança, e que ela paga juros de 6% ao ano, ou, para sermos mais precisos, visto que a taxa mensal de 0,5% é cumulada, uma taxa efetiva de 6,17% ao ano?
Quando os juros do financiamento habitacional são fixados na taxa efetiva de 12% ao ano, e considerada a caderneta de poupança como fonte de captação, o spread, ou seja, a diferença entre os juros pagos pelo mutuário e os juros pagos ao poupador pela instituição financeira, é de 0,449% ao mês, ou 5,52% ao ano, mas isso se considerada a Tabela Price.
Sabido que a caderneta de poupança capitaliza mês a mês – sim, o poupador recebe juros capitalizados! –, podemos simular uma situação em que aqueles R$ 100.000,00 tomados pelo agente financeiro devam ser por ele devolvidos também em 20 anos, a uma taxa de 0,5% ao mês, em parcelas iguais. Nesse caso, terá de devolver ao poupador por mês, ao longo desse período, um total de R$ 716,43.
Note-se, portanto, que, mesmo desconsideradas todas as despesas suportadas pelo agente financeiro, sejam custos administrativos, sejam tributos, seja ainda o risco da inadimplência, o que ele receberá do mutuário, quando não permitida a capitalização, é menos do que aquilo que ele paga para captar o valor mutuado. Desconsiderados todos aqueles custos, seu prejuízo será, por vinte anos, de R$ 71,02 por mês, o que corresponde ao um spread mensal de 0,105% negativos.
Assim, a solução entendida favorável ao mutuário, que poderia lhe ser bem satisfatória, por reduzir significativamente o valor da prestação, é simplesmente inviável, porque tornará tal operação deficitária ao agente financeiro.
- O equívoco da ilegalidade
Os exercícios acima feitos apenas demonstram o quão difícil é buscar uma alternativa à Tabela Price, porque a capitalização anual resulta em uma redução pífia no valor da prestação e a não-capitalização resulta em prejuízo ao mutuante. De qualquer maneira, não passam mesmo de exercícios, apresentados com o objetivo de fazer ver que soluções mágicas não existem.
Com efeito, não poderiam ser tomados como alternativas sérias à utilização da Tabela Price, simplesmente porque a utilização dessa maneira de apurar o valor da prestação é perfeitamente legal.
Com efeito, quando o art. 25 da Lei 8.692/93 diz que a taxa efetiva anual de juros não poderá ultrapassar 12%, ela desde logo afasta qualquer outro dispositivo legal que inadmita a capitalização. Em ciência econômica ou matemática financeira, sabe-se que a “taxa efetiva de juros” resulta da cumulação dos juros incidentes no período, diferente da “taxa nominal de juros” que corresponde à mera soma dos juros que vencerem nesse mesmo período. Ora, por princípio básico de hermenêutica, a expressão técnica deve ser tomada no exato sentido em que é utilizada na disciplina de origem.
Haverá, sempre, é claro, o argumento de que a Tabela Price, por sua complexidade, é incompreensível ao mutuário, e por isso deve ser afastada. Ora, a matemática financeira é toda incompreensível ao mutuário comum, e mesmo a fórmula que permitirá apurar o valor da prestação com a eliminação da capitalização não lhe será mais inteligível. A propósito, esta última fórmula não se encontra em livros de matemática financeira, enquanto a Tabela Price é de larga utilização, conhecida por qualquer profissional da área. Por essa razão, é uma falácia propor-se o arredamento desta fórmula com base na justificativa de que é demasiadamente complexa, uma vez que não menos complexa será a fórmula que a substituirá.
Ademais, certo que a expressão “taxa efetiva” admite a Tabela Price, e se alguma dúvida há em relação à Lei 8.692, bom será ler a Lei 8.078/90, diploma legal insuspeito, não sem razão cognominada Código de Defesa do Consumidor, que traz a mesma locução no art. 52, II, segundo o qual o fornecedor tem a obrigação de informar ao consumidor prévia e adequadamente a taxa efetiva anual de juros.
Não diz o CDC que a Tabela Price é muito complexa, e por isso seu uso é vedado, e nem ao menos proíbe a capitalização; o que diz é que o consumidor deve ser prévia e adequadamente informado sobre a taxa aplicada. É isso que o agente financeiro deve fazer com o mutuário do sistema financeiro da habitação – e ao que parece o faz, porque invariavelmente se vê nos contratos a expressa referência à taxa efetiva anual, bem como à taxa mensal daí resultante.
- A ilusão do pagamento em excesso
Como visto, o valor da prestação mensal apurado pela Tabela Price é, no exemplo acima, de R$ 1.058,62. Esse valor, multiplicado por 240 meses, somará um pagamento total de R$ 254.068,80, mais de uma vez e meia o valor financiado, de R$ 100.000,00. Não bastasse esse número, outro mais impressionante, costuma ser apresentado em ações judiciais, amiúde movidas após passados os primeiros anos do financiamento: paga já uma pequena fortuna em prestações, ainda assim é constatado um saldo devedor maior do que o valor financiado.
Tal situação, como adiante se verá, se apresenta de modo mais intenso quando o valor da prestações é corrigido conforme os índices de variação salarial do mutuário, enquanto o saldo devedor é mensalmente corrigido pela TR. Contudo, quando prestação e saldo devedor são igualmente corrigidos pela TR, o aumento do saldo devedor é ilusório, porque, corrigido mensalmente, resulta de mera atualização monetária.
Como no início os pagamentos realizados se destinam principalmente a pagar juros, e somente uma parte muito pequena da prestação amortiza o débito – no exemplo acima, da prestação inicial de R$ 1.058,62, R$ 948,88 se destinam ao pagamento de juros, e somente R$ 109,74 servem para amortização –, basta que no primeiro mês a TR seja pouco superior a 0,1% para que o saldo devedor aumente. Trata-se, contudo, de um aumento apenas nominal, e não real, e por isso não tem a menor relevância.
Agora, o que costuma ser ignorado é que o financiamento da casa própria é, de regra, em valor muito elevado, no nosso exemplo R$ 100.000,00, e que o pagamento efetivamente se conclui somente após pagas muitas prestações, em valor também elevado. Se, da primeira prestação, R$ 948,88 são destinados a pagar juros, isso acontece somente porque os juros são de 0,94888%. Depois, se, ao longo dos anos, somente de juros é pago valor equivalente a mais de uma vez e meia o valor emprestado, isso decorre do fato de que são necessários muitos anos, no nosso exemplo vinte, para efetuar o pagamento. Ora, o valor dos juros resulta do montante financiado, da taxa utilizada e do tempo decorrido. Mesmo baixa a taxa de juros, o elevado valor financiado impõe prestação alta e o longo tempo necessário para pagamento eleva em muito o valor pago a título de juros. Nessas condições, se até o vigésimo ano será paga aquela prestação elevada apurada já no primeiro mês, isso é absolutamente normal, e não enseja qualquer modificação judicial.
O que deve ser entendido é que não há como ser baixa a prestação, e a clara consciência disso é necessária para que não seja o Judiciário o mercado onde se comercializam as ilusões.
- Onde, então, a enfermidade?
Como já assinalado, a forma de amortização decorrente do Sistema Francês, expresso pela Tabela Price, assegura que o débito seja integralmente quitado com o pagamento da última prestação. Isso é de uma total precisão matemática, e a ínfima diferença normalmente existente na última parcela ocorre unicamente porque o valor exato da prestação contém frações de centavos, que devem ser desprezadas. Como igualmente assinalado, a correção monetária, mera reposição dos valores corroídos pela inflação, em nada alterará essa realidade, na medida em que, de forma simultânea e com o mesmo índice, se reajustarem ao mesmo tempo o valor da prestação e o saldo devedor. Com efeito, a igualdade se mantém quando ambos os membros dessa igualdade são multiplicados por número idêntico.
Por isso, não pode ser debitado à Tabela Price o aumento desproporcional da prestação e nem o aumento do saldo devedor; tais situações somente ocorrem por causas estranhas ao sistema de amortização utilizado, estejam elas em erros cometidos pelo agente financeiro ou tenham sua origem na lei. É esta última hipótese que interessa examinar, especificamente no que se refere ao saldo devedor, cuja elevação decorre da própria legislação que rege a matéria.
Historicamente, a legislação sobre financiamento para aquisição da casa própria sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação observou dois princípios que deveriam nortear os contratos de financiamento habitacional: o de que deveria ser assegurado ao mutuário que a prestação não excederia a relação existente entre a prestação inicial e a renda que então recebia (Plano de Equivalência Salarial, e também Plano de Comprometimento da Renda); e o de que após o pagamento da última prestação o saldo devedor eventualmente existente seria zerado, e seria dada quitação ao mutuário, para isso utilizado o Fundo de Compensação das Variações Salariais.
Essa quitação ao final do prazo era de suma importância ao mutuário, porque invariavelmente chegava ao final do período de amortização sem ter pago integralmente o débito. E o aqui afirmado de maneira nenhuma contradiz o que foi dito pouco acima acerca da precisão que resulta da Tabela Price. Ocorre que a correção monetária incidia sobre a prestação e sobre o saldo devedor em períodos diferentes e com índices diferentes, de modo que se desfazia a equivalência antes existente.
Da equivalência salarial resultava ao mutuário uma garantia: a de que, ocorrendo simultaneamente inflação elevada e arrocho salarial, a prestação manteria correspondência com o salário; do Fundo de Compensação das Variações Salariais resultava uma segunda garantia, que atuava contra os efeitos colaterais da primeira: a de que o saldo devedor ao final existente seria inexigível. Essa garantia existe para os contratos firmados até meados de 1993.
Porém, o binômio foi quebrado com a Lei 8.692, de 28 de julho de 1993, que, mantendo a equivalência salarial, dispôs em seu art. 29 que o Fundo de Compensação das Variações Salariais não cobriria as operações por ela regidas e dispôs igualmente que o saldo devedor ao final existente deveria ser refinanciado. Para neutralizar a quase certeza de que no final haveria saldo devedor, a Lei determinou, no art. 8º, que o encargo mensal fosse acrescido do Coeficiente de Equiparação Salarial – CES. Isso era necessário não só em vista da possibilidade de ocorrer uma redução do valor real do salário ou da renda do mutuário, mas igualmente porque as correções do saldo devedor eram mensais, enquanto as das prestações ocorriam somente após os aumentos concedidos à categoria profissional do mutuário.
De qualquer maneira, embora mantida ao mutuário a garantia de não ver a prestação aumentada em índice superior ao da sua renda, já não lhe foi assegurada a quitação do financiamento ao final do prazo para pagamento, impondo-se-lhe que naquele momento contraísse um novo financiamento do saldo devedor remanescente. Em princípio, é de se tomar como justa essa exigência legal, visto que, em resultando a equivalência salarial em prestações cujos reajustes não acompanham a correção monetária do débito, isso significa pagar o mutuário menos do que havia se obrigado.
Contudo, sabido que após 1993 houve uma redução do salário real de muitas categorias profissionais, e uma redução mesmo dramática dos vencimentos no setor público, notadamente federal, a conseqüência disso foi que em inúmeros casos se avolumasse de tal maneira o saldo devedor, que se pode projetar, para o final de muitos contratos, não um pequeno saldo a ser facilmente refinanciado, mas uma dívida já impagável.
Em muitos contratos, ocorreu mesmo um ponto de inflexão, em que, da inexistência de reajustes na prestação, decorrência da igual inexistência de correção do salário, mas mantida a correção do saldo devedor, o valor da prestação já não era suficiente para pagar na íntegra os juros lançados no período, e portanto deixaram de ocorrer amortizações e a dívida passou a crescer, ao invés de ser reduzida.
Para ilustrar, tomo a situação hipotética de um funcionário público federal, cujo financiamento de R$ 100.000,00 para pagamento em 240 meses, ou vinte anos, foi tomado em dezembro de 1994. Em dezembro de 2003, após decorridos nove dos vinte anos, o saldo devedor é de R$ 255.213,50, se calculada a primeira prestação sem o CES, ou de R$ 217.317,73 se acrescido às prestações, a título de CES, o índice de 12%. Deflacionados os valores pela TR, índice utilizado para corrigir o saldo devedor, que variou 105,89% no período, os valores correspondem respectivamente, em comparação ao saldo devedor inicial de R$ 100.000,00 em dezembro de 1994, a R$ 123.955,79 e R$ 105.550,02.
Veja-se, portanto, que a correção mensal do saldo devedor, mesmo que por um índice que desde 1999 é inferior à inflação, mas desacompanhada de reajustes significativos no valor das prestações, ensejou, após nove anos, um acréscimo real de 23,96% no saldo devedor. Mesmo considerado o CES, cuja incorporação no valor da prestação deveria ser uma garantia para a existência de amortizações, o saldo devedor tem um acréscimo de 5,55%.
Calculadas as prestações conforme a Tabela Price, em condições de igualdade no reajuste das prestações e do saldo devedor, e sem utilização do CES, o saldo devedor deveria ter sido reduzido ao longo desses nove anos em mais de 20%, mais precisamente, para R$ 79.493,19, se considerado o valor histórico. Corrigido o valor pela TR, ele deveria estar em R$ 163.669,11, portanto muito abaixo do efetivamente existente.
Esse exemplo é uma indicação clara de ultrapassagem do que acima denominei ponto de escape: sem CES, já na décima-sexta parcela, vencida em abril de 1996, os juros superam o valor da prestação, e portanto o saldo devedor passa a crescer em valores reais; com CES, isso passa a ocorrer na trigésima-sétima prestação, em janeiro de 1997. Se o mutuário quisesse refinanciar agora o saldo devedor, para pagamento nos onze anos restantes, teria de passar a pagar prestação superior ao dobro da atual, sem o CES, ou próxima ao dobro, com o CES. Contudo, não o fazendo, e aguardando o final do prazo, o saldo devedor, que nesses onze anos continuará a crescer de forma geométrica, chegará a um número muito superior ao financiamento inicial. Em outras palavras, após pagar suas prestações por vinte anos, o mutuário estará a dever no final duas ou três vezes mais do que tomou emprestado no início do contrato.
Contudo – e esse é o ponto essencial – nem decorre essa situação da taxa de juros, que não pode ultrapassar 12% ao ano, nem da capitalização mensal, porque o valor da prestação apurado pela Tabela Price deveria quitar o débito ao ser paga a última parcela; ela decorre da incapacidade do mutuário, atingido pelo arrocho salarial, de pagar as prestações no patamar inicialmente fixado, situação em que, temporariamente beneficiado pela equivalência salarial, tem contra si ao final um saldo devedor impagável.
Assim, a causa da sua desdita não se encontra na iniqüidade do contrato, firmado dentro dos padrões legais, nem na voracidade do agente financeiro, mas em situação superveniente à assinatura do contrato e estranha à vontade das partes: a dramática redução da capacidade de pagamento do mutuário.
- O que pode ser revisado
Dos dois pontos que são amiúde o objetivo das demandas judiciais, redução do valor da prestação e redução do saldo devedor, não vejo como possa o primeiro ter sustentação, pelo menos no que se refere ao valor inicialmente calculado de acordo com a Tabela Price.
O segundo ponto igualmente não decorre da forma como são cobrados os juros ou do sistema de amortização adotado, mas da perda da capacidade econômica do mutuário. Não há, portanto, nulidade a ser declarada. E aqui é interessante registrar a distinção conceitual entre anulação do contrato (ou de cláusulas contratuais) e revisão do contrato, porque, não havendo nulidade, nada há a anular, mas, havendo fatos supervenientes de que resulte o desequilíbrio ou a oneração excessiva de uma das partes, o que cabe é a revisão do contrato, para que se adeqüe à nova realidade.
Com efeito, se o mutuário chegou a uma situação insustentável, porque seu saldo devedor foi elevado a um patamar em que já não é possível o pagamento da dívida, ou o é somente à custa de um imenso esforço, isso não decorreu de defeitos da lei ou do contrato, mas do seu achatamento salarial. E tenha-se sempre bem claro que esse prejuízo presente – ou futuro, se considerado que somente ao final do prazo lhe será exigido o pagamento do saldo – foi conseqüência de um benefício inicial: a garantia de, em situação econômica adversa, pagar menos do que o necessário para a quitação, circunstância essa que, em contraponto, impôs ao agente financeiro receber menos do que sua expectativa. Portanto, nem ao menos se pode culpar o banco financiador por essa situação desfavorável, e por isso é inoportuno falar em nulidade.
A questão está em saber se, em não havendo nulidade, pode ocorrer modificação nas condições do contrato. Parece desnecessário fazer grandes digressões sobre as possibilidades de revisão do contrato com base nas modernas teorias, em grande medida incorporadas ao novo Código Civil, consagradoras da possibilidade de alteração de cláusulas contratuais que, submetidas a fatos supervenientes, se tornam excessivamente onerosas a uma das partes. Veja-se, por exemplo, o art. 317, que consagra a Teoria da Imprevisão, e teve uma interpretação alargada pelo Enunciado nº 17 da Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “A interpretação da expressão ‘motivos imprevisíveis’, constante do art. 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis mas de resultados imprevisíveis.” Em princípio, não parece descabida a aplicação dessa teoria, que, mesmo não positivada, já estava em uso antes do novo Código; com efeito, o arrocho salarial podia ser previsível, mas certamente não o era na proporção em que ocorreu, e por isso não se podia imaginar que dele resultariam saldos devedores impagáveis.
É necessário, além disso, ter claro que o mutuário integra a relação contratual como consumidor, e por isso deve ser igualmente protegido pelas regras de defesa dos consumidores; e que o objeto do contrato é o financiamento para aquisição de moradia, direito essencial, que mesmo por isso é objeto de leis especiais cujo objetivo sempre foi o de estabelecer condições favoráveis aos adquirentes de imóveis nessas condições. A própria equivalência salarial foi criada para favorecer o adquirente da casa própria, e por isso é um paradoxo que tenha como subproduto a impossibilidade de pagamento do saldo devedor final.
Por isso, o que se põe em relação aos contratos firmados sob a Lei 8.692/93, nas condições aqui analisadas, é a necessidade de reduzir o prejuízo imposto ao mutuário pelo arrocho salarial a que foi submetido, e essa redução somente pode significar, na alçada do Judiciário, que esse prejuízo seja compartilhado com o agente financeiro.
Isso pode se dar, sempre pelo prudente arbítrio do juiz – e nunca pela anulação de cláusulas que nulas não são –, com a redução do saldo devedor, a um patamar que deverá resultar de cálculo em que se apure qual a repercussão que isso terá para a outra parte envolvida no contrato, visto que não parece razoável, salvo hipótese em que isso possa ser facilmente tolerado pelo agente financeiro, impor-lhe o prejuízo consistente na perda total do crédito representado pelo saldo devedor final. Veja-se que a própria lei prevê a possibilidade de existir ao final um saldo devedor remanescente; apenas não prevê que seja em valor impagável.
A questão se remete, portanto, a um juízo de razoabilidade, sempre orientado por informações objetivas, que podem ser fornecidas por perito, sobre os efeitos produzidos no contrato pela redução do saldo devedor. Um caminho possível é a simulação de hipóteses de redução da taxa de juros com a manutenção da prestação inicial no valor contratado. Assim, por exemplo, contratado o financiamento com juros à taxa efetiva de 12% ao ano, e com base nesse percentual apurado o valor da prestação, seria mantido o valor dessa prestação, com a redução dos juros incidentes sobre o débito. Dessa forma, lançados desde o início juros em percentual inferior ao contratado, será possível revisar a evolução do saldo devedor, dada a ocorrência de maior amortização.
Com isso, se poderá chegar a um saldo devedor razoável, que, mesmo não zerado ao final do prazo para pagamento, admita um refinanciamento tolerável ao mutuário, ainda que com a redução do lucro pelo agente financeiro.
É claro que em algumas situações extremas nem isso é possível. Tomado como exemplo o caso acima demonstrado, chega-se a uma situação-limite, em que, mantida a prestação inicial, mas aplicados juros de poupança, o saldo devedor chega, sem a CES, a R$ 193.084,07 e, com a CES, a R$ 173.909,49, valores que, deflacionados, representam, em relação ao financiamento inicial de R$ 100.000,00, R$ 93.779,87 e R$ 84.466,88. Nesse patamar, houve, portanto, uma pequena redução real do saldo devedor, embora na primeira hipótese, de prestação calculada sem o CES, já tenha sido ultrapassado o ponto de escape e, mesmo com juros de poupança, o saldo devedor esteja aumentando. Assim, salvo ocorra em breve um significativo aumento salarial, é de se esperar que, mesmo com esses juros, que provavelmente causarão prejuízo ao agente financeiro, ou pelo menos lhe reduzirão significativamente o lucro, o débito venha ao final a ser impagável.
O que, de qualquer maneira, fica claro nesse exemplo, é que mesmo os juros de caderneta de poupança, que provavelmente correspondem a uma operação deficitária para o financiador, poderão impor ao final um saldo devedor altíssimo.
Nesse caso, a solução com certeza terá de passar por medidas de natureza política, que assegurem aos milhares de mutuários nessas condições a manutenção de suas moradias, com o pagamento do restante da dívida em condições toleráveis.
Quanto ao Judiciário, em se deparando com situações como estas, terá de ter claro, primeiro, que, como demonstrado, a causa disso não está no sistema de amortização adotado e nem na capitalização dos juros, que é legal; segundo, que a desmedida elevação do saldo devedor é sub-produto da combinação entre equivalência salarial e arrocho salarial, sem a correspondente cobertura de um seguro contra o saldo devedor final; terceiro, que não existe nulidade, mas uma situação de desequilíbrio contratual não imputável ao credor, cuja solução passa necessariamente pela redução de seu lucro, ou talvez mesmo pela distribuição do prejuízo entre as partes.
PONTO 8 – FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS: CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DE UMA DECISÃO JUDICIAL
Há situações em que decisões judiciais produzem efeitos genéricos sobre a sociedade, como ocorre quando os agentes econômicos passam a proceder em resposta a um determinado entendimento que vigora no Judiciário. É isso que acontece, por exemplo, quando as instituições bancárias elevam suas taxas de juros para manter sua margem de lucro em face de reiteradas decisões que os limitam.
Em outro sentido, os agentes econômicos podem dar resposta positiva a uma linha de entendimento que passa a tomar corpo entre os juízes, para acolhê-la nas suas operações. É isso que passou a acontecer recentemente com algumas instituições bancárias, que deixaram de admitir, em empréstimos habitacionais, a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para passar a utilizar exclusivamente o SAC, Sistema de Amortização Constante.
Como sustentado em outro ponto, tenho por perfeitamente legal a utilização da Tabela Price em empréstimos imobiliários, assim como em outras operações de mútuo financeiro; por isso, não considero essa opção que passa a ser adotada no mercado senão como uma rendição a um entendimento equivocado.
Deixo, todavia, de retornar à discussão sobre a validade da Tabela Price, para procurar responder a duas questões: 1°) se a Tabela Price é ilegal, pode o SAC ser considerado legal?; 2°) é boa para o cliente essa mudança na prática das instituições financeiras? Como se verá ao final, a resposta para ambas as perguntas é negativa.
- A Tabela Price capitaliza, e o SAC não?
Desconheço decisões judiciais que tenham afastado a validade do Sistema de Amortização Constante – ao que parece só a Tabela Price é considerada vilã. Não me parece, de qualquer maneira, que o acórdão paradigmático em relação à matéria, da Apelação Cível n° 70005396783, da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tenha deixado de dar, ao menos, um indicativo sobre a questão. Com efeito, no aprofundado estudo que realizou, o Relator, Desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, foi enfático em dizer que juros não capitalizados seguem a forma linear, como concebida pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss. Nessa linha, e como os juros do SAC não podem ser considerados lineares, a conclusão lógica é que são igualmente ilegais, e assim seria inócua a sua utilização em substituição à Tabela Price.
Contudo, há quem sustente que no SAC não existe capitalização dos juros. Veja-se o que afirma Luiz Antônio Scavone Júnior:
O sistema de capitalização constante não importa na capitalização composta de juros e, sob tal aspecto, não afronta o art. 4° do Decreto 22.626/33 e, tampouco, o art. 591 do Código Civil de 2002.
As amortizações correspondem exatamente a uma parcela do capital em razão do prazo.
Sendo assim, não resta capital excedente para contagem de juros, como ocorre na tabela price, concorrendo o fato de não haver soma de juros ao capital para contagem de juros novos.
Para comprovar essa afirmação, corrobora a inferência que se extrai da comparação do valor total dos juros cobrados pelo sistema de amortização constante com o valor total dos juros cobrados em cada parcela pela sistemática de apuração do montante (valor futuro) com juros capitalizados de forma simples, cujos resultados são idênticos.
O autor apresenta, então, dois gráficos, a partir dos quais pretende comprovar a equivalência entre a sistemática de apuração do montante (no exemplo, 1% na primeira parcela, 2% na segunda, e assim sucessivamente) e o SAC, mediante a soma das prestações pagas, que é idêntica em ambas as modalidades.
No primeiro dos gráficos, mostra como ocorre, pelo SAC, a amortização a partir de um débito inicial de R$ 11.255,08, com juros de 1% ao mês e 12 prestações:
| Parcela n. | Juros % | Juros | Amortização | Prestação | Saldo devedor |
| 11.255,08 | |||||
| 1 | 1% | 112,55 | 937,92 | 1.050,47 | 10.317,16 |
| 2 | 1% | 103,17 | 937,92 | 1.041,09 | 9.379,23 |
| 3 | 1% | 93,79 | 937,92 | 1.031,71 | 8.441,31 |
| 4 | 1% | 84,41 | 937,92 | 1.022,33 | 7.503,39 |
| 5 | 1% | 75,03 | 937,92 | 1.012,95 | 6.565,46 |
| 6 | 1% | 65,65 | 937,92 | 1.003,57 | 5.627,54 |
| 7 | 1% | 56,27 | 937,92 | 994,19 | 4.689,62 |
| 8 | 1% | 46,90 | 937,92 | 984,82 | 3.751,69 |
| 9 | 1% | 37,51 | 937,92 | 975,43 | 2.813,77 |
| 10 | 1% | 28,14 | 937,92 | 966,06 | 1.875,85 |
| 11 | 1% | 18,75 | 937,92 | 956,67 | 937,92 |
| 12 | 1% | 9,38 | 937,92 | 947,30 | 0,00 |
| Soma: | 731,55 | 11.255,08 | 11.986,59 |
Em seguida, e com o mesmo débito inicial, mesma taxa e mesmo prazo, pela sistemática de apuração do montante:
| Parcela n. | Juros | Amortização | Prestação | Juros % |
|
1 |
9,38 | 937,92 | 947,30 | 1,0% |
| 2 | 18,75 | 937,92 | 956,67 | 2,0% |
| 3 | 28,14 | 937,92 | 966,06 | 3,0% |
| 4 | 37,51 | 937,92 | 975,43 | 4,0% |
| 5 | 46,90 | 937,92 | 984,82 | 5,0% |
| 6 | 56,27 | 937,92 | 994,19 | 6,0% |
| 7 | 65,65 | 937,92 | 1.003,57 | 7,0% |
| 8 | 75,03 | 937,92 | 1.012,95 | 8,0% |
| 9 | 84,41 | 937,92 | 1.022,33 | 9,0% |
| 10 | 93,79 | 937,92 | 1.031,71 | 10,0% |
| 11 | 103,17 | 937,92 | 1.041,09 | 11,0% |
| 12 | 112,55 | 937,92 | 1.050,47 | 12,0% |
| Soma: | 731,55 | 11.255,08 | 11.986,59 |
Contudo, o seu grande equívoco reside em ignorar o fator tempo, razão pela qual chega a uma igualdade artificial. Com efeito, na sistemática de apuração do montante, em que não há capitalização, as parcelas são crescentes, enquanto no SAC são decrescentes, de modo que o valor da primeira parcela num sistema corresponde ao valor da última no outro sistema e vice-versa. No exemplo utilizado, de doze prestações, a prestação inicia na primeira sistemática em R$ 947,30, e termina em R$ 1.050,47; no SAC inicia em R$ 1.050,47 e termina em R$ 947,30; em ambas, a soma das prestações é de R$ 11.986,59. Ora, é elementar que quem inicia pagando mais amortiza mais, porque pagou mais em menor tempo. Por isso, para assegurar que o fator tempo incida de igual maneira, deverá ter, nas parcelas seguintes, uma redução mais significativa para que seja mantida a equivalência. Em outras palavras, se aquele que inicia pagando mais paga exatamente o mesmo que aquele que inicia pagando menos, isso significa que paga juros mais elevados.
E a diferença fica clara no modo como se apuram os juros: na primeira sistemática, os juros são sempre calculados somente sobre o valor da parcela a ser paga: 1% sobre o valor da primeira prestação; 2% sobre o valor da segunda prestação, e assim sucessivamente; no SAC, assim como na Tabela Price, os juros são calculados mês após mês sobre a totalidade do capital, ou do saldo devedor. No primeiro caso, os juros são lineares; no segundo, não são.
É de se assinalar, além disso, que, a par de ser equivocado o entendimento de que a capitalização somente ocorre quando há soma de juros ao capital para a contagem de novos juros, nem isso é um diferenciador em relação à Tabela Price, visto que nela, da mesma forma como ocorre com o SAC, o valor dos juros lançados é sempre inferior ao valor da prestação.
Onde diferem o SAC e a Tabela Price
Um mutuário que tome um empréstimo a uma determinada taxa de juros, não verá a taxa alterada em nada se optar por amortizar sua dívida pelo SAC ou pela Tabela Price: se a taxa anual é a mesma, a taxa mensal também será idêntica, e serão pagos exatamente os mesmos juros; uma coisa é saber a taxa de juros que será paga e a maneira como incidirá; outra, bem diferente, é optar por uma sistemática de amortização.
Poderá alguém tentar refutar essa afirmação com o argumento de que quem opta pelo SAC terá pago, ao final, menos do que quem opta pela Tabela Price. O equívoco desse raciocínio é exatamente o mesmo daquele que procura sustentar a igualdade entre duas sistemáticas pela igualdade na soma das prestações, sem perceber que numa as prestações são crescentes (aqui, constantes) e na outra, decrescentes.
A diferença entre o SAC e a Tabela Price reside no que existe de constante nessas sistemáticas: na primeira, a constância está na amortização; na segunda, está no valor da prestação. Contudo, os juros são lançados nelas exatamente da mesma maneira, sempre sobre o saldo devedor existente.
Volto ao exemplo do Ponto 7, financiamento de R$ 100.000,00, para pagamento em 20 anos, com juros de 12% ao ano, 0,949% ao mês. Na primeira prestação, quem optou pela Tabela Price pagará R$ 1.058,62, dos quais R$ 948,88 corresponderão a juros e R$ 109,74 a amortização; quem optou pelo SAC pagará R$ 1.365,55, dos quais R$ 948,88 serão juros e R$ 416,67 amortização.
Na segunda parcela (e até o final) o optante pela Price pagará os mesmos R$ 1.058,52, mas, como já amortizou R$ 109,74, os juros são ligeiramente menores, R$ 947,84, e a amortização maior, R$ 110,78; já quem escolheu o SAC amortizará os mesmos R$ 416,67, mas, porque já amortizou mais, terá uma redução maior nos juros, que serão de R$ 944,93, e assim terá a prestação reduzida a R$ 1.361,60.
Para melhor compreensão, segue um exemplo mais simples, com visualização gráfica do que acontece. Tomado um empréstimo de R$ 1.200,00, a juros de 10% ao mês, portanto a uma taxa efetiva anual de 213,84% (tomo taxas elevadas para melhor visualização), pela Tabela Price a prestação será, do primeiro ao último pagamento, de R$ 176,12. No primeiro mês, isso corresponderá a R$ 120,00 de juros e R$ 56,12 de amortização; no último mês, somente R$ 16,00 serão juros, e R$ 160,12 amortização (nesta última parcela, há pequena diferença, pelo arredondamento das frações). A sistemática se demonstra pelo seguinte gráfico, em que, nas doze prestações, todas no mesmo valor, a parte cinza corresponde aos juros e a preta à amortização:
TABELA PRICE
Já no Sistema de Amortização Constante, a amortização será igual a R$ 100,00 em cada mês, valor que resulta da divisão do total emprestado, R$ 1.200,00, pelas 12 parcelas; além disso, incidirão juros de R$ 120,00 no primeiro mês, R$ 110,00 no segundo, e assim sucessivamente, até chegar a R$ 10,00 na última parcela. Portanto, o mutuário inicia pagando R$ 220,00 e termina pagando R$ 110,00. Nesse caso, a visualização se dá da seguinte forma:
SAC
Pode-se ver que na primeira sistemática o valor destinado os juros irá diminuindo moderadamente, e a amortização crescerá em sentido inverso; na segunda, em que a amortização já inicia mais alta, os juros diminuirão de forma mais significativa, de modo que ao final a prestação será bem inferior. O optante pelo SAC terá pago, ao final, considerada a totalidade das parcelas, menos (R$ 1.980,00) que quem optou pela Tabela Price (R$ 2.113,44), mas por uma única razão: o fato de ter pago mais, portanto amortizado mais, ao início fez com que sobre esse valor já amortizado deixassem de incidir juros: o capital é o mesmo, a taxa é a mesma, mas o tempo de pagamento é outro, em face da antecipação da amortização no SAC.
Portanto, em ambas há uma similitude que não permite concluir senão que nas duas existe a capitalização mensal dos juros: eles são calculados mês após mês, sempre sobre a totalidade do saldo devedor existente.
O prejuízo resultante da supressão da Tabela Price
Chego à última pergunta: é bom para o cliente que os bancos não mais permitam a utilização da Tabela Price em financiamentos habitacionais? A resposta já se encontra na simples descrição do que ocorre: antes, o cliente tinha duas alternativas de amortização; agora, é obrigado a contratar pelo SAC.
É evidente que a resposta tem, também um pressuposto: não existe uma sistemática melhor que a outra; uma poderá ser melhor que a outra conforme as conveniências ou as necessidades do mutuário.
Às vezes, o cliente quer se prevenir de ônus futuros, reduzindo-os ao máximo, e tem condições de pagar prestações mais elevadas de início. Nesse caso, sem dúvida é melhor optar pelo Sistema de Amortização Constante.
Já em outras situações – talvez na maior parte delas –, o mutuário que procura o financiamento habitacional, e portanto não tem capacidade econômica suficiente para comprar sua moradia à vista, arca com consideráveis desembolsos com o pagamento adiantado de parte do preço, despesas cartorárias e imposto de transmissão, e igualmente terá encargos com mudança, eventuais reformas e aquisição de móveis. Além disso, pode ter uma renda relativamente modesta, mas a expectativa de ascender profissionalmente. Nesse caso, lhe será mais conveniente pagar de início uma prestação menos elevada, ainda que o valor real se mantenha constante ao longo dos anos, mesmo porque haverá a expectativa de que terá no futuro melhores condições de pagar. Nesse caso, a solução ideal é a opção pela Tabela Price.
Há ainda outra situação, em que a questão ultrapassa a mera perda do direito de optar, mas leva até à perda do direito de contratar. É o que acontece quando o financiamento buscado se torna inviável porque a prestação inicial mais alta do SAC ultrapassa o limite legal de 30% do comprometimento da renda familiar bruta.
Se tomado em consideração o fato de que o Sistema Financeiro da Habitação existe para assegurar o acesso de trabalhadores de média e baixa renda à casa própria, só cabe concluir que a retirada da possibilidade de optar pelo sistema de amortização mais adequado às necessidades do mutuário significa um retrocesso indesejável no sistema.
Contudo, o que está acontecendo é que, por força de uma crescente jurisprudência, que considera ilegal a utilização da Tabela Price, as instituições financeiras, movidas por uma premissa equivocada, que supõe uma substancial diferença onde há similaridade, estão hoje retirando dos mutuários a possibilidade de optarem na hora de contrair o empréstimo habitacional.
PONTO 9 – JUROS BANCÁRIOS: OS PARADOXOS DA IDEOLOGIA
O empréstimo de dinheiro a juros existe desde tempos imemoriais, e diferentes civilizações lhe deram atenção em suas codificações; ora o autorizavam, ora o reprimiam; ora liberavam os juros, ora os limitavam. Os primeiros códigos escritos, dentre eles o de Hamurabi e o de Manu, já se preocupavam com a limitação dos juros, e os Romanos tiveram, em vários momentos de sua civilização, diferentes normatizações a respeito; em Esparta os juros eram proibidos, mas em Atenas eram praticados a taxas generosas.
E não só as leis se preocupavam com os juros: há registros literários que indicam ter sua licitude sido discutida desde a antigüidade. Aristóteles sustentava que os juros eram a forma de ganhar dinheiro mais contrária à natureza, porque eram dinheiro que nascia do próprio dinheiro. Diferentes livros da Bíblia também se ocuparam da usura: no Êxodo, ao ditar as suas leis a Moisés, Deus admoestou seu povo a não oprimir o pobre com usuras; a mesma ordem foi dada no Levítico e no Deuteronômio, mas este último autorizava a usura contra o estrangeiro, e os Salmos de Davi incluíram entre as virtudes que dão acesso a Deus não emprestar dinheiro com usura. Também no Novo Testamento há referências negativas à remuneração pelo mútuo: diz o Evangelho de Lucas que, após escolher seus apóstolos, Jesus foi pregar, e disse não haver virtude em emprestar esperando receber. O Corão foi mais longe, e proibiu a sua cobrança.
A tradição cristã sempre identificou na cobrança de juros atividade pecaminosa, julgamento presente no pensamento de seus principais teólogos, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Este último afirmava que a cobrança de juros quebrava a necessária comutatividade dos contratos e sustentava a tese de que os juros são o preço do tempo, e que o tempo pertence a Deus, não podendo por isso ser apropriado pelos homens.
Com tal posição de seus teólogos, obviamente era esse, também, o entendimento da Igreja, que em sucessivos concílios condenou a usura e proibiu seus fiéis de serem agiotas. Entrementes, necessitando também ela de dinheiro, tomava-o emprestado de judeus.
A Reforma Protestante, particularmente com Calvino, representou uma ruptura nesse pensamento. À doutrina católica, que enfatizava a idéia de que aos pobres pertenceria o Reino dos Céus, responderam os reformadores sustentando que o acúmulo de riquezas era a melhor maneira de homenagear a grandeza divina. Segundo Calvino, o pobre era suspeito de preguiça, e a preguiça era uma injúria contra Deus. Calvino, que fora bispo de Genebra, cidade que abrigava grande número de prósperos banqueiros, foi o principal responsável pela quebra do estigma lançado pela Igreja sobre a atividade financeira, ao admitir a possibilidade de cobrança de juros, embora condenasse as taxas altas. Assim, os Estados protestantes passaram a considerar lícito o empréstimo de dinheiro a juros, que, sob o domínio da Igreja de Roma, sempre fora praticado de modo clandestino.
Depois, Montesquieu n’O Espírito das Leis, assumiu a defesa da cobrança de juros, por ser o dinheiro o signo dos valores, que pode ser alugado como qualquer outro valor. E foi na França revolucionária que, ainda em 1789, a Assembléia Nacional decretou a liberdade de contratação de juros.
Isso, de qualquer maneira, e não obstante os avanços da ciência econômica, com os fisiocratas e Adam Smith, que demonstraram a função econômica do empréstimo de dinheiro a juros, não impediu que no imaginário popular ele continuasse a ser considerado de maneira negativa, como o é até hoje, razão pela qual a distinção entre o agiota e o banqueiro não é substantiva, mas antes adjetiva, entre o clandestino e o legal.
A melhor demonstração desse imaginário está na literatura, recheada de agiotas moralmente repugnantes, mas onde é desconhecido personagem que, emprestando dinheiro a juros, mereça a simpatia do leitor.
Dante viu os usurários no sétimo círculo do inferno, junto com assassinos, assaltantes e tiranos, e o inferno também era o destino da barca em que o agiota foi posto por Gil Vicente. Shakespeare, de quem dizem alguns ter sido ele também agiota, criou Slylock, que, emprestando dinheiro ao desafeto Antônio, com ele contratou que, não ocorrendo o pagamento no prazo, poderia cortar do devedor um quilo de carne próximo ao coração.
Emma Bovary, ao cabo de suas desventuras amorosas, acabou por ser levada ao suicídio, após arruinada por um agiota inescrupuloso; Raskolnikov se sentiu encorajado a matar, por ser agiota a sua vítima. Da mesma forma, são desprezíveis Dâmaso Salcede, de Eça de Queirós, e o velho Scrooge, de Dickens, assim como os agiotas de Balzac, um dos quais, no leito de morte, agarra-se desesperadamente a um crucifixo, não por ser crucifixo, mas por ser de ouro.
Na literatura brasileira não é diferente, como o provam Abelardo I, em O Rei da Vela, cujo autor, Oswald de Andrade, se via ele próprio às voltas com agiotas, e Paulo Honório, de São Bernardo.
E tal idéia nunca teve lugar certo no mapa ideológico, porque tanto podia vir de quem, à esquerda, se solidarizava com os pobres desapossados por agiotas inescrupulosos, quanto de quem estava à direita, proprietário fundiário, comerciante ou industrial com dificuldades para honrar seus empréstimos.
Hoje, não há como desvincular desse tipo de concepção a idéia que se tem das instituições financeiras. No Brasil, ela é alimentada decisivamente pelo fato de que aqui se praticam taxas de juros das mais altas de que se tem notícia, e que têm relação direta com os elevados lucros das instituições financeiras.
É claro que a crítica ao capital financeiro tem pertinência, e não só porque com freqüência são cobrados juros extorsivos pelas instituições bancárias, mas talvez mais ainda porque patrocina, de forma descontrolada, um fluxo constante de capital especulativo, dito volátil, capaz de a qualquer momento quebrar, com sua voracidade e irracionalidade, um país das dimensões do Brasil.
Por outro lado, se é pertinente a crítica, é também inegável que, ao se alimentar desse preconceito secular a rejeição ao capital financeiro, isso muitas vezes contamina as análises, e impede qualquer avaliação objetiva sobre haver efetivamente taxas abusivas em cada situação concreta analisada. Assim, com ou sem razão, mas sem conhecimento das causas que fazem com que os juros sejam elevados a um determinado patamar, já se parte de uma visão ideológica, que vê abuso em qualquer índice praticado.
E essa desinformação permanece a despeito de serem de muitos milhares os números de ações que ano a ano ingressam no Judiciário, ajuizadas por mutuários ou correntistas para reduzir os juros praticados, ou então ajuizadas por bancos para cobrar créditos que alegam ter, invariavelmente contestadas com o mesmo argumento de que são excessivos os juros.
Convém lembrar – e, embora isso pareça óbvio, precisa ser lembrado por quem lida com a matéria no âmbito forense – que o capital financeiro cumpre uma função econômica, essencial em qualquer economia moderna, e que consiste em fornecer recursos para o investimento em atividades produtivas, razão pela qual deve ser justamente remunerado.
Entretanto, pouco se pergunta o operador jurídico sobre o motivo que leva os juros a serem elevados, e pouco discute, senão sob critério estritamente jurídico, baseado no princípio da isonomia, sobre caber ou não tratamento diferenciado aos bancos, no que se refere ao mútuo. Mas, são duas questões importantes, que não podem ser ignoradas na análise sobre a licitude das taxas praticadas.
Não se pode ignorar que os juros são instrumento essencial de política econômica, e que por isso suas oscilações sofrem grande influência de decisões políticas, tendentes a garantir a estabilidade da economia, pelo controle da inflação. Além disso, essas decisões em matéria econômica se dão de forma contingenciada, porquanto partem de situações dadas; no Brasil, não pode ser ignorado o alto endividamento público, cujo financiamento se dá mediante o pagamento de encargos mais elevados, o também grande endividamento de empresas privadas. Assim, mesmo que não se preste homenagem ao deus mercado, para cuja vontade não há, segundo alguns, e como se não resultasse da atividade humana, nenhum remédio, é necessário ter claro que a questão não é tão simples, que autorize culpar pelos juros elevados tão-somente a voracidade das instituições financeiras.
Por essa razão, a limitação dos juros por lei envolve riscos, porque o limite da razoabilidade não pode ser visto senão como o que é razoável sob determinadas condições econômicas.
Contudo – e é essencial ficar claro esse ponto –, o estatuto que deve tratar das instituições financeiras não é o mesmo que deve alcançar o mútuo praticado por pessoas que assim não se qualifiquem.
Embora haja quem sustente que o tratamento diferenciado fere o princípio da isonomia, é equivocado tal entendimento, porque se está diante de situações muito distintas. Com efeito, as instituições financeiras, integrantes do sistema financeiro nacional, atuam sob o controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e não podem operar senão sob determinadas condições, que dizem não só com a finalidade de se garantir a observância às regras em vigor, mas também com a prevenção em relação a quebras, porque estas põem em risco a poupança pública e podem, por reação em cadeia, causar a quebra do próprio sistema.
Talvez não seja demasiado afirmar mesmo que, mais do que distinguir entre instituições financeiras e mutuantes que não integram o sistema financeiro nacional, a lei veda o empréstimo em dinheiro, como atividade profissional, a quem não integra o sistema financeiro (arts. 17 e 18 da Lei 4.595/64). Assim, é de se dizer que a prática da agiotagem é vedada não só pelos juros elevados que se praticam, mas igualmente por não ser permitido dedicar-se profissionalmente ao empréstimo de dinheiro a juros, senão por autorização federal. Por isso, o mútuo de dinheiro, embora não proibido fora do sistema financeiro, tanto que merece disciplina na legislação civil, não tem lugar ali como atividade profissional.
Essa necessidade de existência de disciplina própria impõe inclusive uma legislação específica, atualmente em vigor a chamada Lei da Reforma Bancária, Lei 4.595/64, que, no seu art. 4º, inc. IX, atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar taxas de juros.
Tal dispositivo, embora tenha ensejado, por parte do Supremo Tribunal Federal, a publicação da Súmula nº 596, segundo a qual não se aplicam às instituições financeiras as disposições do Decreto 22.626/33, sempre foi recebido com muitas ressalvas.
Num aspecto, foi atacado por delegar ao Conselho Monetário Nacional matéria de competência privativa do Poder Legislativo Federal, afirmada na Constituição de 1946, sob cuja égide entrou em vigor, e também presente na Constituição de 1988.
Em outro ponto, foi objeto de intermináveis discussões sobre a dicção do inc. IX do art. 4º, porque, segundo alguns, o verbo limitar permitia à autoridade monetária somente fixar patamares abaixo do limite de 12% do art. 1º do Decreto 22.626/33, enquanto a tese adotada pelos Tribunais Superiores afirmou que implicitamente os juros haviam sido liberados para as instituições financeiras.
Depois, na Constituição Federal de 1988, em grande medida movida a Assembléia Constituinte, com forte representação dos setores produtivos, pela rejeição aos altos juros praticados pelas instituições financeiras, ocorreu nova opção por sua limitação. Com isso, mais do que vedar a cobrança de juros em patamar superior a 12%, decidiu o constituinte que, justamente nesse ponto central – a remuneração da atividade econômica – o tratamento dispensado às instituições financeiras não fosse diferente do que resultava das regras relativas a qualquer contrato de mútuo.
Não obstante a imediata tomada de posição do Poder Executivo, que, dois dias após a promulgação, publicava parecer do Consultor-Geral da República, com aprovação do Presidente da República, em que afirmava que a limitação constitucional não era auto-aplicável e carecia de regulamentação por lei complementar, e dois anos depois a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acolheu esse entendimento, a matéria nunca deixou de ser, a partir de então, objeto de polêmica, e a tese da auto-aplicabilidade manteve, ao longo desses anos, seu prestígio na base do Judiciário.
Por isso, mesmo quando, talvez mais por razões pragmáticas – evitar a interposição de recurso extraordinário – as decisões dos juízes e desembargadores críticos a essa tese passaram a não se fundamentar em razões constitucionais, mantinham o patamar de 12%. Mais do que isso, em grande medida, porque ainda com prestígio a Súmula 596, plenamente acatada no Superior Tribunal de Justiça, deixavam mesmo de usar como fundamento a Lei de Usura, também considerada inaplicável às instituições financeiras, e se baseavam principalmente no Código de Defesa do Consumidor, embora não fixasse este diploma nenhum limite numérico.
Agora, vem o Congresso Nacional de, com a Emenda Constitucional nº 40, de 20 de maio de 2003, revogar os parágrafos do art. 192 da Constituição Federal, e portanto retirar dela o limite de 12%.
Obviamente, isso pouco altera para quem considera ter a Lei 8.078/90 elementos suficientes para manter os juros nesse patamar; também pouco altera para quem, contra a posição do STJ, sustenta aplicável às instituições financeiras a legislação comum, agora provavelmente não mais com o art. 1º do Decreto 22.626/33, mas com os arts. 406 e 591 do novo Código Civil. Contudo, admitido que as instituições financeiras mereçam tratamento diferenciado e que isso tem sustentação legal, certamente terá sido removido um obstáculo que manchava a credibilidade jurídica desse entendimento.
E o interessante, que revela o paradoxo ideológico da tese limitadora, é que, embora não tenha sido iniciativa sua, a mudança constitucional se deu sob o patrocínio do partido que, à esquerda do espectro ideológico, hoje ocupa o Executivo, lugar onde tem mantido a política de juros altos. Talvez isso deva servir de alerta aos operadores jurídicos, porque, no plano da condução da política econômica, parece ter sido dito que a postulação da limitação legal dos juros às instituições financeiras não é mais que bravata de oposição.
PONTO 10 – JUROS BANCÁRIOS: OS PARADOXOS DA POLÍTICA
A legislação portuguesa não foi bafejada pelos ventos da Reforma e nem do liberalismo emergente, e as Ordenações permaneceram, sob influência do direito canônico, a estabelecer limitações à cobrança de juros, de modo que nos seus primórdios também o direito brasileiro apresentou essa característica.
Desde então, nosso ordenamento positivo oscilou entre a liberação à cobrança de juros e a sua restrição. A Lei de 24 de outubro de 1832 os liberou (Art. 1º. O juro ou prêmio de dinheiro, de qualquer espécie, será aquele que as partes convencionarem.) e o Código Comercial não estabeleceu novas restrições, exceto à capitalização, autorizada somente nas contas correntes, ano a ano (art. 253).
O Código Civil de 1916 alargou esse quadro, ao permitir a capitalização, mas foi seguido pelo Decreto 22.626/33, que limitou os juros a 12% ao ano e retomou a restrição do Código Comercial à capitalização. Aliás, nos comentários de Clóvis Bevilacqua e nos considerandos do Decreto de 1933, temos interessantes indicativos acerca do espírito que norteou o legislador a decidir em um ou outro sentido.
Herdeiro, o Código Civil, do espírito liberal dominante, cuidou o legislador de então de assegurar às partes a máxima liberdade de contratação, inclusive com a liberação dos juros e a possibilidade de capitalização, como expresso no art. 1.262: “É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo em dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem capitalização.”
Disse, sobre isso, Bevilacqua:
— Abusos de usurários e preconceitos religiosos levaram, muitas vezes, os legisladores a limitar a taxa dos juros, e a opinião a condemnar a liberdade dos contractos feneratricios (sic). A propria expressão usura e os seus derivados assumiram uma significação deprimente. Mas a sciencia econômica, apreciando melhor a funcção do credito, e a natureza dos juros, reprova toda a intervenção da lei para a regulamentação da taxa dos juros convencionaes.
— O Código Civil adoptou, francamente, essa orientação liberal, que, aliás, já viera da lei de 24 de outubro de 1832, que traduz a influencia das idéas de Bentham, das quaes entendem alguns que se desviou o Código Commercial, art. 253, prohibindo o anatocismo, ou a capitalização dos juros. Teixeira de Freitas, porem, explicava as palavras do Código Commercial de modo a concilial-as com a lei civil: «O art. 253, quando diz — é prohibido contar juros de juros — não reprova o anatocismo; veda, unicamente, que se contem juros de juros, quando assim não se tiver estipulado. A excepção desse art. 253 sobre accumulações de juros em contas correntes não é propriamente uma excepção, é o reconhecimento da estipulação de juros de juros, effeito implícito do contracto de conta corrente».
Apesar, porem, da lição do sábio jurisconsulto, ainda persistiam duvidas, que o Codigo Civil dissipou, assentando em termos inequívocos o principio da liberdade das convenções em materia de mutuo oneroso.
Entrementes, sobrevieram no mundo novas leis, e, desde a Constituição alemã de Weimar, de 1919, fortemente influenciada pelos socialistas, ganhou relevo o entendimento de que o Estado deveria ter papel mais efetivo na economia. Além disso, sucedeu-se, no plano econômico, uma grave crise mundial, que teve como epicentro a quebra da Bolsa de Nova York e ensejou políticas intervencionistas, como a New Deal, patrocinada por Roosevelt, expressão do Welfare State, proposto por Keynes, e dominante nas décadas seguintes.
No plano político interno, ocorreu a Revolução de 1930, que alterou o perfil do Estado Brasileiro, afastando a antiga elite e pondo no poder um governo com projeto centralizador e preocupado com a industrialização.
A crise econômica mundial derrubara a cotação do café e simultaneamente retraíra seu consumo, o que exigiu a intervenção governamental, com a compra e destruição dos estoques. Isso não foi, todavia, suficiente para solucionar o endividamento dos produtores de café, que haviam tomado empréstimos a juros de 2% ao mês, e agora não conseguiam pagá-los.
Assim, no contexto de uma situação internacional que impunha tal medida e de uma opção do novo governo na condução da política econômica, e ainda porque ele se empenhava em uma política de apaziguamento com a elite de São Paulo, após a Revolução Constitucionalista de 1932, surgiu o Decreto 22.626/33, que se tornou conhecido como Lei de Usura.
Os considerandos do Decreto são esclarecedores:
Considerando que todas as legislações modernas adotam normas severas para regular, impedir e reprimir os excessos praticados pela usura;
Considerando que é de interesse superior da economia do país não tenha o capital remuneração exagerada impedindo o desenvolvimento das classes produtoras;
A propósito da situação de endividamento dos cafeicultores, é interessante notar que o art. 10 ampliou o prazo para pagamento das dívidas então existentes para dez prestações anuais e, em disposição de duvidosa validade, determinou o art. 3º que o limite de juros da lei se aplicaria aos contratos existentes ou já ajuizados, o que rendeu grandes polêmicas à época.
Mais de trinta anos depois veio legislação específica para o sistema financeiro, agora sob os ventos de um novo governo, igualmente instalado pela força, mas cujos compromissos no plano econômico eram de integração do país ao mercado internacional, o que haveria de ser feito com uma política ortodoxa, que não prescindia da liberdade na remuneração do capital.
A Lei 4.595/64 não foi precisa ao dispor sobre juros, e sempre foi questionada, não só porque interpretados de diferentes maneiras os seus dispositivos, como igualmente por ter delegado à autoridade monetária a fixação do limite máximo dos juros.
O art. 4º da Lei conferiu ao Conselho Monetário Nacional uma série de poderes, entre os quais os do inciso IX: “limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financiamento, inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover: – recuperação e fertilização do solo; – reflorestamento; – combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais; – eletrificação rural; – mecanização; – irrigação; – investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias.”
A primeira crítica, que acompanhou a Lei ao longo de todos esses anos, foi a de que a autoridade concedida ao Conselho Monetário Nacional era somente a de limitar juros, seja isso pelo contexto em que posta a delegação, porque desde logo já era apresentado um rol de atividades que deveriam merecer taxas favorecidas, seja porque em nenhum momento autorizou fossem extrapolados os limites da Lei de Usura ou a afirmou revogada.
A essa crítica se somava a da inconstitucionalidade, porque vedada pela Constituição de 1946 a delegação legislativa. Em assim sendo, esse dispositivo nem teria entrado em vigor, e estaríamos há quase quarenta anos sob a égide de uma norma inconstitucional.
Contudo, é com base neste artigo de Lei que durante todo esse tempo foi sustentada a possibilidade de os bancos cobrarem juros excedentes ao limite legal, tese que foi sufragada pela Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal (As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.).
Veja-se, ainda, a propósito da delegação de poder legislativo, que, mesmo superados os óbices das anteriores Constituições, novamente a de 1988 vedou essa possibilidade, porquanto atribuiu competência privativa à União para legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII), encarregando o Congresso Nacional de fazê-lo (art. 48, XIII).
Mais, no art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias disse revogados, a partir de 180 dias da promulgação, os dispositivos legais que atribuam ou deleguem competência legislativa a órgão do Poder Executivo.
É certo que o próprio art. 25 disse que o prazo era prorrogável por lei, e por isso foi sucessivas vezes prorrogada a vigência dos dispositivos legais que atribuíram ou delegaram competência ao Conselho Monetário Nacional, o que foi feito sempre com prazo certo, até que o art. 1º da Lei 8.392/91 trouxe uma prorrogação sine die, ao dizer que ela se estenderia até a data da promulgação da lei complementar de que trata o art. 192 da Constituição. Ora, ao tornar indeterminado um prazo que na Constituição era certo, e mesmo que tenha sido por ela autorizada a prorrogá-lo, a Lei criou um dispositivo inconstitucional, por se voltar contra a vontade do art. 25 do ADCT. Se este autorizava a prorrogação, o fez por certo por prever a possibilidade de se tornar exíguo o prazo de 180 dias para a necessária produção legislativa que se seguiria, mas não para ter sua vontade contrariada pela protelação tornada lei, como persiste após decorridos tantos anos.
Mas, falávamos da Constituição de 1988, e esta, movida por uma maioria que, seja por convicção ideológica de alguns, seja por interesses corporativos de outros, que nesse ponto contrariavam os interesses do mercado financeiro, colocou em polvorosa o pensamento econômico dominante, ao, em tempos de thatcherismo e reaganismo, limitar a taxa de juros reais em 12% ao ano.
Em artigo publicado em 30 da março de 2003 no jornal Estado de São Paulo, Maílson da Nóbrega deu seu depoimento sobre a reação que a novidade causou no Governo:
Na época, como ministro da Fazenda, participei dos esforços contra a aprovação da emenda e em declarações públicas alertei sobre os seus efeitos negativos. Foram mais fortes, todavia, o preconceito contra os bancos e a desinformação sobre o papel dos juros na economia. O deputado Gasparian venceu.
Em dramática reunião de ministros, convocada pelo presidente Sarney, concluímos que as conseqüências da nova regra seriam trágicas.
Advogados do governo diziam que ela era auto-aplicável. O que fazer? A salvação veio com Saulo Ramos, consultor geral da República. Para ele, seria preciso regulamentar o limite. Duvidava que se questionasse a tese. Saulo trabalhou à noite e no outro dia pela manhã nos apresentou um calhamaço de umas 50 páginas com sólidos argumentos. O presidente aprovou o parecer.
O parecer de que falou o ex-ministro se tornou famoso, e foi contra sua aprovação pelo Presidente da República que o PDT ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4, na qual o Supremo Tribunal Federal, por seis votos contra quatro, decidiu não ser auto-aplicável a norma do art. 192, § 3º.
Na ocasião, não só o parecer de Saulo Ramos havia trazido um diagnóstico do Banco Central sobre os efeitos da limitação dos juros e as suas conseqüências nefastas para a economia, como igualmente uma série de pareceres encomendados pela Federação Brasileira dos Bancos a juristas ilustres, e que fundamentaram o voto condutor da tese vencedora, deram grande ênfase aos resultados negativos da norma para a condução da política econômica e para a sobrevivência do sistema financeiro.
O que restou patente em toda a discussão que se deu em torno da ADIN – e, mesmo depois de julgada, ao longo de muitos milhares de ações judiciais envolvendo a matéria – é que em grande medida o exercício hermenêutico obedeceu ao posicionamento ideológico dos intérpretes ou eventualmente às suas convicções em matéria de ciência econômica, o que em alguns momentos deixou mesmo em segundo plano a apreciação jurídica da matéria.
O certo é, de qualquer maneira, que a partir de 1991 restou fixado que não era auto-aplicável a limitação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, e sua vigência passou a ser reconhecida apenas pelo que poderíamos chamar de jurisdição de resistência; admitida majoritariamente a vigência do art. 4º, IX, da Lei 4.595/64, bem como a interpretação de que ele liberou os juros, muitos optaram por apreciar a discussão sobre a limitação de juros bancários sob outros critérios, que não os da Constituição.
Por fim, veio a Emenda Constitucional nº 40, que, entre outras alterações à Constituição, revogou os parágrafos do art. 192, e com isso excluiu a questão dos juros da alçada constitucional. Evidentemente, pouco mudou com essa decisão, dado o fato de que já eram raras as decisões que limitavam os juros unicamente com base na autoridade da Constituição.
Nesse ponto é interessante ser ainda destacado que, mesmo entre setores que antes se opunham a qualquer mudança dessa natureza, a alteração constitucional teve grande apoio, em observância a uma perspectiva de reforma do sistema financeiro nacional, que tenha por eixo básico a obtenção de independência ou maior autonomia pelo Banco Central.
Não é irrelevante ao operador jurídico saber a razão pela qual, depois de anos de intensos debates, em que este era considerado um ponto de irredutível resistência, que no Judiciário autorizava dissentir de decisão consolidada nos Tribunais superiores, ocorreu tão inusitada confluência de posições, de modo a permitir que se tenha chegado, nas duas casas legislativas, a tal nível de consenso.
A impressão que fica é a de que aqui sempre houve um descompasso entre legislador e administrador, de modo que aquele estabelecia limites legais, ou constitucionais, que este último considerava intoleráveis para a gestão econômica, por lhe retirarem a possibilidade de acesso a um instrumento essencial de controle da economia, que é a fixação da taxa de juros.
Trata-se de aspecto que, de resto, nunca ensejou maiores dúvidas entre economistas, embora diferentes escolas de pensamento pudessem ter concepções diversas sobre a condução da política econômica. Entretanto, seja porque a lei se inclinava em outra direção, ou pelo menos sempre foi suficientemente dúbia para permitir interpretações divergentes, seja porque herdeiros da crítica secular à usura, seja mesmo porque conhecedores de inúmeras situações em que dívidas bancárias cresciam a valores estratosféricos, somente menores que os formidáveis lucros das instituições financeiras, muitos julgadores sempre mantiveram – e continuam a manter – uma posição dissonante.
Contudo – e este dissídio continuará a existir, ao que parece, por longo tempo –, em se tratando de juros bancários, nunca houve muito acordo entre política e legislação, e entre economia e jurisprudência; pode-se dizer até, dadas as diferentes e excludentes disposições legais, bem como as diferentes leituras que se fizeram ao longo do tempo, em tema que, de tão central, exige um mínimo de acordo, que nem ao menos houve ali grande preocupação com a coerência.
Nesse quadro, sempre conviveram o pragmatismo jurídico de quem via na limitação dos juros a perspectiva de caos econômico, e por isso buscava na lei argumentos nem sempre convincentes sobre a não-limitação, com o radicalismo de quem, tomando como pressuposto que os juros praticados pelas instituições financeiras são abusivos, fazia críticas severas aos fundamentos jurídicos utilizados para considerar autorizada a cobrança de juros em níveis superiores aos patamares legais, mas nunca entrou na discussão sobre os efeitos da limitação de juros sobre a economia.
Parece estranho que nunca tenha havido solução legislativa clara para esse desacordo sobre ponto central da vida econômica de um país extremamente complexo, fato que permitiu a parte considerável da jurisprudência dar interpretação destoante daquela do Supremo Tribunal Federal, e agora também do Superior Tribunal de Justiça, e isso não por rebeldia gratuita ou visão tacanha da economia, mas principalmente pela falta de uma legislação clara e porque esses juízes rebeldes expressam uma concepção, arraigada na sociedade, e demonstrada por inúmeros processos que chegaram ao Judiciário, de que há abusos na remuneração cobrada pelas instituições financeiras.
PONTO 11 – JUROS BANCÁRIOS: OS PARADOXOS DA JURISPRUDÊNCIA
Revogado o § 3º do art. 192 da Constituição Federal, e em vigor o Código Civil de 2002, que traz disciplina nova acerca dos juros, impõe-se discutir qual é o estatuto – se é que tal estatuto existe – que agora se aplica aos juros nas operações bancárias.
Primeiro, é de se rejeitar a incidência do limite dos juros do Código Civil, e isso sem discutir se o novo Código revogou ou não nesse ponto a Lei da Reforma Bancária, questão a que se teria de dar necessariamente resposta negativa, dado o caráter especial desta lei, que por isso não poderia ser revogada por norma de caráter geral. Porém, aqui a questão central é a de que, íntegro o caput do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe seja o sistema financeiro nacional regulado por lei complementar, lei ordinária não poderá estabelecer esse limite.
Nesse ponto, convém lembrar que, como já assinalado em outro lugar, nada tem de condenável e não configura qualquer ofensa ao princípio da isonomia, em matéria de remuneração do capital, a existência de diferentes tratamentos, conforme seja mutuante entidade que integra o sistema financeiro nacional ou pessoa que não o integra.
Da mesma forma, não pode ser aplicada a Lei de Usura, mesmo porque seu art. 1º, que era justamente o que fixava limites para as taxas de juros, está revogado.
Já a Lei 4.595/64, embora até hoje invocada pela maior parte da jurisprudência como fonte legal autorizadora dos juros fixados em patamar superior a 12%, e como tal ainda reconhecida pelo STJ, sempre enfrentou fortes questionamentos quanto a sua aplicabilidade.
Contudo, este aspecto é de menor relevância, porque se está entre reconhecer a validade de um dispositivo legal em que é delegada competência legislativa a uma autoridade administrativa e afirmar a inexistência de lei disciplinadora dos juros bancários, e os efeitos práticos que resultam da opção por uma das alternativas pouco diferem.
Trata-se de sutil diferença, com efeito prático nenhum: de nada adianta considerar inconstitucional a lei que autoriza a autoridade administrativa a fixar os limites dos juros, por delegar competência, se, não havendo lei, e optando o legislador por não criá-la, não há limites às taxas de juros, exceto aqueles que eventualmente sejam estabelecidos pela própria autoridade monetária.
A questão pode ser posta de outro modo. É certo que as taxas de juros são instrumento de política econômica e, sendo instrumento de política econômica, é desaconselhável sua limitação legal. Ademais, e porque a Constituição deixou de limitá-los, já não se pode ao menos dizer que ela determine devam ser os juros bancários limitados por lei.
Por isso, a revogação do parágrafo terceiro pode ser lida como uma opção do constituinte derivado pela inexistência de limites legais ou pela remessa da matéria ao âmbito da condução da política econômica. E, nesse caso, a própria crítica à delegação se esvazia, porque será perfeitamente defensável dizer que, ao afirmar a Constituição a competência privativa da União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII), e ao dizer que compete ao Congresso Nacional legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações (art. 48, XIII) e sobre moeda, seus limites de emissão, e o montante da dívida mobiliária federal (art. 49, XIV), isso não significa que afirmou que a lei deve fixar limites de juros. Antes falava, é certo, mas o único lugar em que o fazia foi no dispositivo agora revogado. Por isso, pode-se concluir que, mais do que dizer que a Constituição já não limita os juros bancários, o constituinte afirmou que não quer que os juros bancários sejam limitados.
Significará isso, então, que, por estarem liberados, os juros bancários já não são suscetíveis de controle pelo Judiciário?
Com certeza, não. Contudo, a tarefa ficou bem mais difícil, e exigirá do julgador muito mais do que conhecimento jurídico, mas uma acurada análise sobre o que são, em cada conjuntura específica, juros abusivos. Esse aspecto é essencial, porque seria absolutamente irreal exigir juros baixos quando o governo paga juros elevados ou por seu mecanismos os mantém elevados, da mesma forma como o é admitir a cobrança de juros elevados quando eles são fixados em índice reduzido pela autoridade monetária.
Evidentemente, isso não é bom para a segurança jurídica, porque milhares de demandas judiciais continuarão a ser submetidas à subjetividade de magistrados, de regra leigos em ciência econômica e, mesmo porque este é uma informação que permanece guardada, alheios ao custo do dinheiro para os bancos.
E a dificuldade é dupla, porque também no plano jurídico, ao invés de se buscar um dispositivo preciso, que limita os juros em um percentual certo, será necessário trabalhar com normas mais genéricas, princípios e conceitos jurídicos abertos.
Para situações excepcionais, certamente se poderá contar com o art. 317 do Código Civil, que consagra no plano legislativo a teoria da imprevisão. Contudo, dado justamente o requisito da imprevisibilidade, não é aí que está a solução, senão em condições muito especiais, como ocorreu, por exemplo, por ocasião da desvalorização cambial ocorrida no início de 1999, com os contratos de financiamento cujas prestações tinham o valor vinculado ao preço do dólar, e que foram abruptamente elevadas.
Da mesma forma, pode ser tomado como fundamento para a redução dos juros a teoria da base objetiva, consagrada no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, segundo alguns mais adequada para enfrentar o desequilíbrio provocado pela desvalorização cambial de 1999, porque não se tratava de fato imprevisível.
Eventualmente, poderá ser utilizado o art. 157 do Código Civil, que consagra o instituto da lesão, quando, por exemplo, provado que o excesso de saque na conta corrente, de que resulta a impossibilidade de pagamento, resultou de premente necessidade, ou, embora isso não seja comum, tenha a alta taxa de juros sido contratada por inexperiência, ou que por inexperiência tenha sido utilizado o limite da cobertura, quando sabidamente o crédito oferecido pelo banco não se destina a um financiamento, mas somente à cobertura de eventuais excessos de saque.
Mas, na essência, parecem ser duas as fontes legais com base nas quais se poderá coibir eventual abuso na fixação dos juros bancários. A primeira é o Código de Defesa do Consumidor, basicamente a parte inicial do já citado art. 6º, V, onde permite a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, e os arts. 39, V, que veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, e 51, IV, que diz nula cláusula que estabeleça obrigações iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.
É de se assinalar que parcela considerável do Judiciário já o utilizava, à medida em que, passando a acatar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inaplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, era com base no CDC que se limitavam os juros em 12% ao ano, o que se fazia sob argumento de que juros superiores a esse patamar são abusivos, e por isso nulos.
A segunda fonte legal a ser utilizada é o art. 113 do novo Código Civil, que consagra o princípio da boa-fé objetiva, e pode perfeitamente ser conjugado, em matéria de contratos bancários, juntamente com as disposições de igual natureza do Código de Defesa do Consumidor.
Parece não ser muito, mas é o suficiente para que um sistema de proteção à parte contratualmente mais fraca, que há anos vem sendo construído, seja tomado como referência na análise dos contratos bancários.
Note-se, portanto, que os instrumentos à disposição do operador jurídico já não são regras precisas, como o limite dos 12%, mas normas jurídicas abertas, que tratam de conceitos indeterminados, como lesão, boa-fé, onerosidade, abusividade, e por isso exigem do julgador um esforço criador e uma dose de valoração muito superiores àqueles necessários para simplesmente repetir que os juros devem ficar limitados em 12%.
Contudo, isso não é suficiente, e, se não se fixarem alguns parâmetros, que partam de um conhecimento razoável sobre o modo como são fixados os juros bancários e permitam um acordo mínimo sobre qual seja o lucro razoável da instituição bancária, ou se ficará arbitrária e teimosamente nos juros de 12%, tendo claro, de antemão, que não é este o entendimento do STJ e que predomina a tese de que não existe lei que imponha tal limite, ou então se cairá num subjetivismo igualmente estéril, com base no qual se poderão gestar soluções dos mais diferentes feitios, e tão arbitrárias que o próprio julgador não saberá, muitas vezes, a razão de assim decidir.
E aqui considero adequado fazer a crítica a duas posições extremas, que, para desprestígio do Judiciário e insegurança jurídica dos jurisdicionados, vêm convivendo ao longo dos anos, e tornam a discussão judicial uma verdadeira loteria.
A primeira das posições – e aqui a crítica é também uma autocrítica –, com grande prestígio na base da jurisdição e em tribunais estaduais, mas sem nenhum acatamento no STJ, é a de quem entende que os juros não podem exceder a 12%; e note-se que essa posição não tinha por base somente a Constituição, mas em grande medida vinha sendo sustentada basicamente na legislação infraconstitucional.
Esse posicionamento está agora definitivamente órfão do argumento constitucional, e da mesma forma já não pode se sustentar no art. 1º do Decreto 22.626/33, mesmo porque quem o entenda ainda em vigor deverá admitir juros de 24% ao ano. Poderá, no máximo, ser invocado o parâmetro dos arts. 406 e 591 do Código Civil e, com o argumento de que o Código se aplica aos contratos bancários, numa queda-de-braço esquizofrênica com o STJ, que consolidou posição a favor da aplicabilidade da Lei 4.595/64, e por isso entende liberados os juros.
A alternativa, à falta de lei que diga ser de 12% o limite máximo, é a utilização dos fundamentos jurídicos acima já referidos, em particular o Código de Defesa do Consumidor, e dizer potestativa, portanto nula, a cláusula contratual que os fixa em patamar superior.
Aqui se impõe, todavia, uma pergunta: qual é o critério objetivo que leva o julgador a dizer abusivos os juros fixados acima de 12%? Os juízes se habituaram a esse percentual, historicamente consagrado por nossa legislação, mas com certeza – e o mesmo se aplica aos advogados – não têm, em sua grande maioria, conhecimento de economia e informações acerca do comportamento do mercado, bem como dos elementos que constituem a base da formação dos juros. Nessas condições, o único parâmetro para que se digam abusivos os juros de 12% é a tradição legal e judiciária, o que é, convenhamos, insuficiente para uma decisão que não peque pela inconsistência.
Da mesma forma, será temerário cair em argumentos de uso corriqueiro mas consistência duvidosa, como dizer que no Brasil se praticam juros dos mais altos do mundo, e ignorar que em grande medida isso ocorre por razões macroeconômicas, que nada têm a ver com uma vocação dos bancos para o lucro fácil.
Não vale igualmente dizer-se que os formidáveis lucros dos bancos provam que eles cobram juros excessivos, e que por isso cabe sua redução a 12%. A correlação entre grandes lucros e juros altos pode existir, mas não são só as taxas de juros que elevam os lucros dos bancos; por outro lado, a redução dos juros justamente a 12%, e não a qualquer outro percentual não tem a seu favor nenhum fundamento na realidade objetiva. Lembre-se, por exemplo, que a Taxa SELIC, que estabelece os juros básicos da economia, não raro se situa em patamar que, confrontado com a expectativa de inflação do Governo, projeta juros reais superiores a esse percentual.
Na verdade, e exceto em algumas operações, como as cédulas e notas de crédito comercial, industrial e agrícola, que têm recursos captados em condições mais favoráveis e, dada a legislação específica, encontram no STJ o entendimento de que os juros são limitados em 12%, parece certo que, em certas condições do mercado, juros nesse patamar podem representar prejuízo ou lucro ínfimo para as operações bancárias. Nesse caso, é irreal a manutenção de tal percentual, e a persistência de decisões dessa natureza apenas demonstrará o alheamento do Judiciário em relação às condições objetivas da nossa economia e o seu afastamento da sua função primordial, que é a de fazer justiça.
Contudo – e aqui a crítica à posição que se situa no outro extremo, e hoje é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça –, é impossível aceitar que os juros usualmente praticados pelas instituições financeiras sejam, por força da Lei 4.594/64, sempre legítimos, ou que o simples fato de resultar das taxas médias de mercado legitime a comissão de permanência.
A crítica a esse entendimento parte, antes de qualquer consideração sobre a composição dos juros, da constatação do resultado de sua aplicação, porque lá onde o resultado é absurdo também o que gera esse resultado não pode ser considerado senão absurdo. E o resultado absurdo de certas taxas, notadamente aquelas que se aproximam de dez pontos percentuais por mês, pode ser muito bem aquilatado por uma simples operação matemática.
Além disso, há dados objetivos que permitem constatar excessos na composição dos juros. Utilizo-me, para isso, de estudo realizado pelo Departamento de Estudos e Pesquisas – DEPEP, do Banco Central do Brasil. Embora seja de 1999, o trabalho, desencadeador de um projeto que tem passado por avaliações anuais, mantém sua atualidade, mesmo porque as taxas então praticadas não eram muito diferentes às dos anos que se seguiram.
O estudo inicia trazendo uma constatação que, por significativa, merece ser transcrita:
As taxas de juros brasileiras estão atualmente entre as mais elevadas do mundo. Isso deve-se, em parte, às condições macroeconômicas que caracterizaram o período recente, e que hoje começaram a reverter-se. No entanto, essa é só parte da explicação, pois a diferença entre as taxas de juros básicas (de captação) e as taxas finais (custo ao tomador), a qual denominamos de “spread”, também tem sido expressiva, como demonstram as taxas de juros cobradas nos empréstimos. (p. 3)
Depois, segue analisando a composição do spread, e em vários aspectos faz considerações críticas à sua dimensão. Tomemos o cheque especial, que é, de todas as formas de empréstimo, aquela que apresenta mais altas taxas. Trabalha o estudo com taxa anual de 178%, dos quais 21% correspondem à taxa de captação (CDB) e 157% ao spread. Em números mensais, o custo ao tomador é de 8,9%, a taxa de captação de 1,6% e o spread de 7,3%. Este divide-se em despesa administrativa (1,48%), impostos indiretos mais CPMF (0,84%), inadimplência (1,42%), Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1,32%) e lucro (2,24%).
No que se refere especificamente às despesas administrativas, diz o estudo que, representando, na média, pouco mais de 0,8% sobre as operações realizadas, portanto pouco mais da metade dos 1,48% do cheque especial, mesmo assim são elevadas para os padrões internacionais, porque “refletem o superdimensionamento do setor, principalmente no que diz respeito ao número de agências, e a baixa alavancagem de operações de empréstimo no País.” (p. 9). Menciona, portanto, entre as causas, um problema de dimensionamento, item de ineficiência pelo qual paga o tomador do empréstimo.
Sobre o cheque especial, sigo transcrevendo, na análise do elevado spread (pp. 11-2):
Esse elevado spread cobrado, a rigor, não tem correspondência com o risco de crédito ou com os custos administrativos. O acesso às operações de cheque especial normalmente é concedido apenas a clientes ditos especiais, com bom cadastro junto aos bancos, o que teoricamente afasta a hipótese de elevada inadimplência e da necessidade de grandes acréscimos a título de risco de crédito. Da mesma forma, com a informatização das operações bancárias, não se justificam grandes acréscimos às taxas em função de despesas administrativas. Afinal, os bancos normalmente já cobram tarifas quando dos contratos de abertura de crédito especial e renovação de cadastro.
Não se pode afirmar categoricamente, com base nos dados coletados, qual o valor exato da inadimplência e custo administrativo associado ao cheque especial. No entanto, é possível fazer uma estimativa da composição do spread cobrado pelos bancos, com base na inadimplência e custo administrativo da amostra de cias. financeiras, que provavelmente superestima o impacto real desses valores. Utilizando esses dados, observa-se que a parcela do lucro dos bancos corresponde a 2,24 pontos percentuais ao mês, o que significa 31% do spread.
A explicação para a elevada taxa de retorno desta atividade está, possivelmente, no fato dos bancos terem algum poder de mercado sobre os tomadores de recursos em cheque especial. Com efeito, face a uma cobrança de juros elevada, a melhor resposta do tomador seria trocar de banco, negociando uma taxa menor. Infelizmente, isso não é fácil. A obtenção de um limite de cheque especial é normalmente conseguida depois que o banco passa a conhecer as características de crédito do cliente, o que demanda um certo tempo. Ou seja, a troca de instituição financeira, para o tomador de recursos em cheque especial, envolve um grande custo.
Sabendo desse fato, a instituição financeira pode aproveitar-se disso, cobrando taxas de empréstimos elevadas. Como a composição do spread do produto “cheque especial” apresenta características distintas dos demais produtos, soluções específicas também são requeridas para reduzir esse elevado spread. Para tanto, conforme será descrito adiante, seria importante a adoção das seguintes medidas: i) aumento das informações disponíveis sobre as taxas de juros de cheque especial praticadas por cada instituição financeira; ii) aumento da concorrência no setor, permitindo maior entrada de instituições financeiras nesse mercado; e, iii) formação de um cadastro nacional de clientes de bancos, com informações positivas, como limites globais de cheque especial e de cartão de crédito. Esta última medida, em particular, permitirá reduzir o tempo necessário para que uma nova instituição conheça o histórico de crédito de um cliente, facilitando a troca de banco.
A longa transcrição se justifica, porque demonstra como um estudo do Banco Central aponta, entre as causas dos juros elevados, ao lado de razões macroeconômicas e de fatores objetivos, como a alta incidência tributária e a baixa alavancagem das operações de empréstimos, também a ineficiência operacional, mas, muito mais do que isso, o superdimensionamento da inadimplência e do custo administrativo, e ainda a alta lucratividade, que representa 30,45% ao ano. Ademais, se efetivamente é dado peso excessivo à inadimplência e ao custo administrativo, isso significa que na verdade o lucro anual é bem superior a este percentual.
Note-se, ainda, que, ao dizer que os bancos provavelmente superdimensionam a inadimplência e o custo administrativo, o Banco Central admite que ele próprio tem informações apenas imprecisas sobre a composição do spread, o que dá uma idéia de como os bancos agem alheios a qualquer controle.
Ao final do trabalho, são elencadas várias medidas no plano legal, regulamentar e operacional, com vistas a reduzir os juros. Uma delas tem aqui especial interesse, e diz respeito à transparência das operações bancárias: “Especificamente sobre as operações de crédito, o BC deve emitir normativo solicitando informações diárias mais detalhadas às instituições financeiras, em termos de custos e prazos das principais operações.” (p. 25). Ainda na mesma página, afirma que o Banco Central publicará a taxa média praticada por todos os bancos, com vista a uma maior concorrência no cheque especial.
Naquele mesmo ano de 1999, mais especificamente em 30 de dezembro, foi expedida a Circular nº 2.957, que determinou aos bancos a prestação diária de uma série de informações, principalmente sobre taxas de juros, prazos e inadimplência.
Entretanto, se o objetivo da informação e processamento desses dados era aumentar a transparência das operações bancárias e estimular a concorrência, pela divulgação desses dados aos consumidores, tudo a partir de um diagnóstico que apontava excessos nas práticas de juros, foi outro o efeito no Judiciário, na medida em que recentemente optou o STJ por utilizar as taxas médias assim apuradas como taxa da comissão de permanência.
Assim, as taxas médias praticadas num contexto identificado pelo Banco Central como de pouca eficiência administrativa, com dados superestimados e não auferíveis sobre o custo administrativo e o montante da inadimplência, e com alta margem de lucro, acabam por ser consideradas legítimas em situação de inadimplência.
Já em período de normalidade contratual, considera o STJ válidos os juros contratados, os quais, dada a situação descrita no estudo, que aponta aproveitarem-se os bancos da dificuldade do tomador de empréstimo de buscar alternativas e estimular a concorrência, e dado o resultado da capitalização mensal de tão altas taxas, principalmente nas contas correntes, resultam em breve espaço de tempo em valores impagáveis.
Por isso, a necessidade de buscar uma via intermediária entre a irreal e obstinada insistência nos 12% e a aceitação, sem questionamento, das taxas constantes dos contratos bancários.
A solução, como sempre, não é fácil, mesmo porque, se o próprio Banco Central não tem condições de analisar com segurança a correção dos elementos que integram o spread, muito menos poderá o Judiciário fazê-lo.
É interessante assinalar que, entre aqueles que já vinham manifestando uma posição crítica à limitação dos juros, sem deixar de igualmente assinalar os excessos praticados pelas instituições financeiras, algumas soluções já vinham sendo preconizadas. Assim, ainda sob a vigência do limite constitucional de 12%, Arnaldo Rizzardo propunha que esse percentual incidisse sobre o spread, por entender que, não excluída desse percentual a taxa de captação, ficaria inviabilizada a atividade bancária. Sustentava Rizzardo:
O problema é a forma de calcular os juros. Não incide sobre o capital mutuado ou financiado, posto que, vivendo a instituição financeira do resultado ou diferencial (spread) entre captações e aplicações, naturalmente não pode incidir a taxa sobre aquilo que é emprestado, mutuado ou financiado. Incidirá, sim, sobre a remuneração que o banco paga. Do contrário, não seriam reais os juros, isto é, não equivaleriam a rendimentos, ao lucro, ao resultado positivo.
Se for entendido diferentemente, ficaria inviabilizada qualquer atividade financeira. Realmente, efetuando o banco captações, tanto em poupança como nas mais diversas modalidades de fundos de investimento, é natural que os seus lucros serão calculados sobre os rendimentos que paga. Por outras palavras, cobrará os juros de 12% sobre os rendimentos que satisfazem aos aplicadores. Somente nesta exegese torna-se viável a aplicação do art. 192, § 3º. Por conseguinte, mês a mês, examinam-se os índices de remuneração ou rendimentos das aplicações ou dos depósitos bancários em poupança e fundos, e sobre tais resultados é que incidirá a taxa do art. 192, § 3º.
Embora não seja esse conceito de juros reais fiel àquele de que se utiliza a ciência econômica, era, já então, um alerta à irrealidade da limitação pura dos juros em 12%. Registre-se, sobre a solução proposta por Rizzardo, que ela imporia, provavelmente, a exclusão da correção monetária, porque já incluída nas taxas de juros básicas.
O que, de qualquer maneira, aqui interessa é o fato de que o autor se afastou das duas posições extremas, e o fez com base em critérios que rejeitam a análise da questão pelo prisma do limite máximo arbitrário, mas buscam em elementos constitutivos da formação dos juros ou no comportamento do mercado fundamentos para coibir os excessos.
Mas, como parte de um limite fixo, não têm por base uma análise econômica, que confirme, à luz do efetivo conhecimento sobre a composição dos juros, corresponderem os limites dessa maneira fixados à realidade.
A idéia de considerar como limite da razoabilidade o spread de 12% ao ano pode ser uma sugestão de parâmetro, mesmo porque, ainda que já não exista o limite constitucional dos juros, esse percentual corresponde à tradição legislativa brasileira, reafirmada no novo Código Civil.
Mas, mesmo essa idéia não pode ser considerada senão como ponto de partida, porque a solução não prescinde de uma análise econômica e mesmo da consideração do fato de que diferentes modalidades de financiamento ensejam a cobrança de diferentes taxas.
Tome-se novamente como exemplo o estudo do Banco Central. Nele se constata que o spread médio cobrado de pessoas jurídicas é de 2,72% ao mês, mas somente 0,48% ao mês correspondem a lucro. Pode-se questionar o percentual destinado à despesa administrativa (0,52%) ou à previsão de inadimplência (1,09%), e considerar que deva ser reduzido, porque superdimensionado, ou até extirpado do cálculo, por inerente aos riscos da atividade financeira. É interessante, todavia, notar que, somados, esses dois itens totalizam mais que o triplo do lucro, e por isso, mesmo que efetivamente previstos em valor excessivo, sua simples retirada resultaria em prejuízo ao banco.
Em outro nível, podem-se tomar os impostos, diretos ou indiretos que se aplicam ao empréstimo – mas não considerado o IOF, porque o próprio Judiciário sempre o desconsiderou no cálculo dos juros, por tratar-se de tributo que incide sobre a operação realizada. O estudo do Banco Central os fixa em 0,63%, e isso porque estamos a tratar de empréstimo a pessoa jurídica, em que a incidência total é menor. Nessas condições, admitido spread de 1% ao mês, restaria 0,37% para distribuir entre despesa administrativa, previsão de inadimplência e lucro, e novamente se chegaria à conclusão de que tal percentual é inaplicável.
Evidentemente é mais fácil reduzir percentuais quando se trata do cheque especial, porque se parte de um lucro de 2,24% ao mês, que pode ser reduzido, de despesas administrativas e previsão de inadimplência superdimensionadas e de impostos que, reduzidos os demais itens, igualmente restarão diminuídos. Porém, aqui se parte de um spread de 7,30% ao mês, que, mesmo cortado em duas terças partes, se manterá em 2,43% e, somado à taxa de captação, resultará em 4,03%.
Nesse ponto da análise, ao que parece, se chega ao impasse, porque aqui se advoga uma solução intermediária entre juros de 12% e juros liberados, mas se critica uma proposta intermediária já feita, que fixa o spread em 12%, sustentando que em algumas circunstâncias ele deve ser fixado em patamar superior, e ainda por cima se afirma a dificuldade em obter informações seguras, como confessado pelo próprio Banco Central, e – afirmação quase definitiva da própria impotência – se diz que a redução judicial dos juros enseja a elevação da taxa para quem não os discute judicialmente.
Contudo, algumas medidas podem ser propostas, e talvez mais de procedimento do que de parâmetros preestabelecidos. Há uma questão conceitual, e de hierarquia, a ser posta. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aos contratos bancários o Código de Defesa de Consumidor, mas também a Lei 4.595/94. Acolha-se, dada a autoridade da origem, o entendimento de que, em matéria de juros, se deve observar esta lei. Mesmo assim, não há como não identificar uma equivocada inversão do raciocínio. Com efeito, se se aplica o CDC, o raciocínio deve ser: “aplica-se aos contratos bancários a Lei 4.595/64, mas também o Código de Defesa do Consumidor”. Explicitando: não se trata de dizer “o consumidor deve ser protegido, mas os juros são livres”, e sim “os juros são livres, mas o consumidor deve ser protegido”.
E isso tem efeitos não somente no plano material, como igualmente no processual, dada a inversão do ônus da prova, que, em situações de verossimilhança e hipossuficiência, decorre do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90. É claro que não se pode dizer que, por definição, os juros bancários são abusivos, e só por isso já se exige dos bancos que provem o contrário. Mas, há duas razões muito fortes que autorizam essa exigência: primeiro, o fato de que os juros cobrados no Brasil estão acima dos praticados em outros países, e isso não só por razões macroeconômicas; segundo, sabe-se que a própria autoridade monetária afirma haver superdimensionamento de alguns elementos componentes do spread. Além disso, basta, em cada caso concreto, analisar as taxas praticadas e os efeitos que delas resultam, para desde logo se ter uma noção sobre eventual onerosidade excessiva. Assim, a verossimilhança está desde logo clara; já a hipossuficiência, não resultasse da relação assimétrica entre banco e cliente, teria de ser reconhecida presente pela quase incontornável impossibilidade ao cliente de produzir essa prova.
Nessas condições, justifica-se plenamente a exigência de prova de que não são abusivos os juros cobrados, para que assim possam ser admitidos. Trata-se, para usar expressão da moda, de abrir a caixa-preta dos bancos, o que nunca foi feito enquanto adotada a posição que define abuso a partir de um limite não científico e predeterminado.
Evidentemente implica isso em maior ônus processual, porque exige novas formas de produção de prova, quase não praticadas em ações dessa natureza, como exibição de documentos e talvez perícia, e exige uma nova e meticulosa leitura do processo, que não era feita quando bastava dizer que os juros são de 12%, e um esforço em conhecer minimamente os meandros da economia, como também até hoje era considerado desnecessário.
Corre-se, além disso, o risco de não se obter essa prova, ou de ela não ser satisfatória, mas nesse caso se extrairão as conseqüências que resultam da não-produção da prova, e a decisão se voltará contra o banco, conforme parâmetro considerado razoável pelo julgador, seja ele o de juros de 12%, seja o de spread de 12% ou seja o da adoção de algum índice a que ele possa chegar com base nas informações existentes sobre o mercado financeiro.
O que deve, de qualquer maneira, ser posto, é que o julgador não pode ficar preso à armadilha de optar entre a redução automática a 12% ou a aceitação passiva dos juros impostos pela instituição bancária, alternativas falsas, porque, fundada a primeira numa concepção anacrônica, é completamente incompatível com a realidade econômica, e, escudada a segunda na ilusão do mercado perfeito e justo, causa a perda da capacidade de analisar criticamente os contratos.
Talvez seja demasiadamente simplista dizer que a solução está no meio termo, mas é ali que ela deve ser buscada, sempre que se constatar, em concreto, o desequilíbrio contratual. O valor que resultará da sentença deverá ser, nessas condições, fixado de forma criteriosa, sem obediência cega a um limite prévio e arbitrário. O melhor é que a jurisprudência encontre parâmetros mais ou menos seguros para fixar valores, sempre adequados à natureza do financiamento, mas a falta desse parâmetros não pode ser um empecilho à fixação de outro percentual por sentença, mesmo que isso possa ensejar críticas a um suposto empirismo, porque tal decisão será apenas a conseqüência natural da prévia constatação do desequilíbrio.
PONTO 12 – COMENTÁRIOS A UMA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Em 12 de março de 2003, procedeu o Superior Tribunal de Justiça o julgamento do Recurso Especial nº 271.214-RS, no qual foi abordado número considerável de aspectos afetos aos contratos bancários, a maioria com jurisprudência já consolidada naquela Corte. Tratou, por exemplo, da impossibilidade de executar contrato de abertura de crédito em conta corrente e igualmente nota promissória a ele vinculada; da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários; da possibilidade da utilização da TR como índice de correção monetária; da inaplicabilidade da Lei 9.298/96, que reduziu a multa do CDC, a contratos anteriores à sua entrada em vigor; mas especialmente afirmou a possibilidade de aplicação dos juros contratados, quando não demonstrada sua eventual abusividade e a possibilidade de cobrança, no período de inadimplência, de comissão de permanência pela taxa média de juros de mercado. Estes dois últimos pontos ensejarão as observações que seguirão.
O acórdão foi publicado em 4 de agosto de 2003, com a seguinte ementa:
Ação de revisão. Embargos à execução. Contrato de abertura de crédito. Juros. Correção monetária. Capitalização. Comissão de permanência. Multa. Precedentes.
- O contrato de abertura de crédito não é hábil para ensejar a execução, não gozando a nota promissória vinculada de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou, nos termos das Súmulas nºs 233 e 258 da Corte.
- O Código de Defesa do Consumidor, como assentado em precedentes da Corte, aplica-se em contratos da espécie sob julgamento.
- Havendo pacto, admite a jurisprudência da Corte a utilização da TR como índice de correção monetária.
- A Lei nº 9.298/96 não se aplica aos contratos anteriores, de acordo com inúmeros precedentes da Corte.
- Os juros remuneratórios contratados são aplicados, não demonstrada, efetivamente, a eventual abusividade.
- A comissão de permanência, para o período de inadimplência, é cabível, não cumulada com a correção monetária, nos termos da Súmula nº 30 da Corte, nem com juros remuneratórios, calculada pela taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, não podendo ultrapassar a taxa do contrato.
- Recurso especial conhecido e provido, em parte.
O voto condutor do acórdão foi do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, revisor, que foi acompanhado pelos Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi, Castro Filho e Sálvio de Figueiredo Teixeira, restando vencidos os Ministros Ari Pargendler, relator, que dava provimento em maior extensão ao recurso da instituição bancária, e Ruy Rosado de Aguiar e Antônio de Pádua Ribeiro, que davam provimento em menor extensão.
Num ponto, que serve de alicerce à análise, e apenas confirma jurisprudência já consolidada do STJ, houve acordo entre todos os julgadores: não há no nosso ordenamento jurídico nenhuma norma que imponha a limitação dos juros nos contratos bancários em 12% ao ano. Nesse aspecto, restou novamente posto que os juros podem ser livremente pactuados, por autorização da Lei 4.595/64, a qual, conforme lembrado no voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, teve reconhecida, no voto do Ministro Carlos Velloso na ADIN 449-DF, a hierarquia de lei complementar, como exigido pelo art. 192 da Constituição Federal.
A Corte utilizou argumentos de natureza econômica e de natureza jurídica para afastar o entendimento do acórdão recorrido, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor pode ser utilizado como diploma que autoriza a redução dos juros a 12%. No plano econômico, foi dada grande ênfase ao fato de que, na data do julgamento, a taxa básica de juros no país, considerada a SELIC deflacionada, estava em 19% ao ano, e que, seja por se tratar uma remuneração que não oferece risco ao investidor, porque paga pela Fazenda Nacional, seja por não exigir qualquer custo administrativo, porque para ser assim remunerado basta adquirir os papéis, esta deve ser considerada a taxa mínima do mercado.
É interessante, sobre esse aspecto, transcrever parte dos votos, a iniciar pelo do relator, que nesse ponto foi vencedor:
Se o dinheiro emprestado pelos bancos fosse do banqueiro, e se ele se desfizesse de todos os seus imóveis e instalações, despedisse os empregados e descartasse qualquer outra despesa, poderia obter – líquidos e anualmente – rendimentos aproximados da aludida taxa de 19% ao ano. É o que está ao alcance de qualquer pessoa que tenha condições de adquirir títulos do governo vinculados à taxa Selic. Nesse contexto, como imaginar que, tendo despesas de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.), mais os riscos próprios da atividade, e a exigência de um mínimo de lucro para suportar todos esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitadas a emprestar por uma taxa de 12% a.a.? (Ministro Ari Pargendler).
Vinculada aos títulos da dívida pública, a taxa SELIC oferece flagrante garantia aos investidores, por isso é que apresenta índices mais baixos. Nesse caso, a taxa SELIC, pode dizer-se, não releva os mesmos componentes formadores nas taxas de juros de mercado, cobrada pelos bancos, o que comprometeria o sistema econômico como um todo, repercutindo, até mesmo, na densidade da oferta de crédito. (Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
E a taxa de juros, como consabido, deriva da política econômica do Estado, em que a taxa base, a SELIC, é determinada por oferecimento aos bancos, pelo próprio Banco Central, o que por mais essa razão afasta, peremptoriamente, a possibilidade de incidência do art. 115 do Código Civil. (Ministro Aldir Passarinho Junior).
Encarregou-se, também, o acórdão, tanto no voto de Ministro Ari Pargendler quanto no do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, de refutar o argumento de que, sendo baixa a inflação, devem ser igualmente baixos os juros. Este último demonstrou sinteticamente o equívoco de tal entendimento:
A política de juros altos, por outro lado, ao menos no Brasil, tem servido como mecanismo de contenção do consumo e da inflação. Não o inverso. Assim, ao contrário do que diz o Acórdão, a inflação baixa no Brasil decorre, também, de uma política econômica de juros mais elevados. Em uma palavra, a taxa de juros, do ponto de vista de política pública, significa também um meio para estabilizar a moeda no tempo, com suas evidentes repercussões no mercado, do sistema produtivo ao ponto final de consumo.
Com todas essas considerações, parece claro que, se o art. 192, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1º do Decreto 22.626/33 podiam, embora afirmada nos Tribunais Superiores sua inaplicabilidade, e contra as evidências da realidade econômica, sustentar decisões judiciais que limitavam os juros em 12%, porque estabeleciam um limite preciso, à mesma conclusão não se pode chegar com o Código de Defesa do Consumidor, porque não limita juros, mas apenas manda afastar cláusulas abusivas. E isso porque não se pode dizer abusiva uma taxa unicamente com base na tradição legislativa, mas só com fundamento na análise da situação concreta; nesse caso calha afirmação constante do voto do Ministro Aldir Passarinho Junior:
Simplisticamente, portanto, proceder o Judiciário à empírica fixação de um limite para as taxas de juros – e ao que se tem notado – de forma indiscriminada, sem considerar qualquer outro fato, sequer a natureza do empréstimo e a sua finalidade – se para bem de consumo, de produção, essencial à vida ou supérfluo, etc. – me parece uma posição que, embora simpática, não leva em conta a real dimensão da questão, e se põe no campo do mais puro arbítrio e subjetivismo.
De que modo, então, se põe o Código de Defesa do Consumidor? No que se refere a essa matéria, salvo melhor explicitação, parece não haver acordo total entre os votos vencedores, porque o Ministro Aldir Passarinho Junior, de modo mais restritivo, afirmou a total inaplicabilidade desse diploma em matéria de juros:
E penso, com respeitosa vênia à r. posição em contrário, que no tocante à limitação da taxa de juros, o CDC é diploma legal inaplicável.
(…)
Concomitantemente ao presente julgamento, desenvolve-se, no mesmo Colendo Supremo Tribunal Federal, a apreciação da ADIN n. 2.591-DF, justamente sobre este tema: a incidência ou não do CDC para efeito de limitação da taxa de juros em contratos bancários.
Pertinente trazer-se à colação o que disse, em seu judicioso voto, o eminente relator da ADIN n. 2.591-DF, Min. Carlos Mário Velloso, especificamente a respeito da incidência do CDC sobre a taxa de juros litteris:
(…)
Empresto, de conseguinte, à norma inscrita no § 2º do art. 3º da Lei 8.078/90 – ‘inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária’ – interpretação conforme à Constituição, para dela afastar a exegese que nela inclua a taxa dos juros das operações bancárias, ou sua fixação em 12% ao ano, dado que essa questão diz respeito ao Sistema Financeiro Nacional – C.F., art. 192, § 3º – tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 4-DF, decidido que o citado § 3º do art. 192, da Constituição Federal, não é auto-aplicável, devendo ser observada a legislação anterior à C.F. /88, até o advento da lei complementar referida no caput do mencionado art. 192, da Constituição Nacional.
Por seu lado, o Ministro Ari Pargendler deixou clara a possibilidade de reconhecer, em concreto a existência de juros abusivos, mas, no exemplo que citou, não chegou a dizer que tomava o CDC como fundamento legal:
Evidentemente, pode-se, em casos concretos, reconhecer a existência de juros abusivos. Por exemplo, no Agravo de Instrumento nº 388.622, MG, tive ocasião de decidir que, “se o acórdão, confortado por laudo pericial, dá conta de que os juros praticados na espécie excediam em 50% à taxa média de mercado, não há como fugir da conclusão de que são, mesmo, abusivos” (DJ, 10.08.2001).
Igualmente Carlos Alberto Menezes Direito e Sálvio de Figueiredo Teixeira admitiram que em circunstâncias especiais os juros podem ser reduzidos, mas o relator para o acórdão não deixou claro com que fundamento, limitando-se a afirmar que a taxa de juros “Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu.” Veja-se, de qualquer maneira, que a referência a lucros excessivos e ao desequilíbrio contratual apontam uma possibilidade de redução dos juros, quando constatadas essas situações.
Já no voto do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira não resta dúvida sobre o entendimento de que os juros podem ser reduzidos com base na Lei 8.078/90:
Observe-se que não há choque entre os dois sistemas, não sendo a Lei 4.595/64 excludente do regime de defesa do consumidor, quando presentes os pressupostos abstratos de incidência desta norma.
Em tal caso, a norma protetiva do consumidor, mais nova e mais específica, regula situações apenas genericamente subordinadas à regra ampla do sistema financeiro nacional.
Note-se, portanto, que esta questão não ficou bem esclarecida, e ainda necessita ser provocada no STJ, porque é muito diferente reduzir juros por excederem as taxas médias de mercado ou reduzi-los porque reconhecidos abusivos por força da legislação consumeirista, ou mesmo por critérios do Código Civil, porque, nesta última hipótese, sempre haverá a possibilidade de se concluir abusivos também os juros fixados dentro dos percentuais praticados pelo mercado. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor pode autorizar o juiz a inverter o ônus da prova acerca da existência do abuso.
Talvez aqui haja mesmo a possibilidade de compatibilizar os dois entendimentos, e mesmo o constante do voto do Ministro Carlos Velloso, na ADIN nº 2.591-DF, à medida em que se afirme que o Código de Defesa do Consumidor não serve para estabelecer limites prévios à taxa de juros e nem para fixar arbitrariamente taxas, mas que, mesmo cobrados juros à taxa de mercado, se admite verificar sua eventual abusividade, dada a análise da situação concreta.
E há razões para isso. O voto condutor do acórdão se baseou, nos seus fundamentos de natureza econômica, em análise acerca do funcionamento do mercado, o que fez com base em trabalho dos professores Marcos de Barros Lisboa e Renato Fragelli, da Fundação Getúlio Vargas. Segundo esse trabalho, em transcrição feita no voto, “tipicamente, a taxa de juros cobrada para um empréstimo depende das oportunidades de investimento disponíveis ao investidor e do risco de que o devedor honre sua dívida no prazo pactuado”, e as “instituições financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a cobrada ao tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na remuneração do serviço de intermediação.”
Explicaram os professores, conforme igualmente transcrito, que as diferentes taxas de juros refletem a multiplicidade de prêmios de risco existentes, de maneira a impedir que os bancos direcionem seus recursos para uma única modalidade de empréstimo. Da mesma forma, a taxa oscila conforme o prazo do empréstimo, porque, em prazos menores, igual risco da inadimplência impõe, para assegurar o mesmo lucro, maior acréscimo no spread.
Esclareceram ainda que, além disso, também o valor da taxa de captação tem efeito na fixação dos juros, e o mesmo acontece com os demais custos do banco, entre os quais pessoal, estabelecimento, material de consumo, impostos e taxas.
Por isso, a conclusão do voto, já referida, acerca da necessidade de ser provada a abusividade, porque, segundo o relator para o acórdão, “a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual.”
Contudo, mesmo tomada como certa a realidade assim descrita, a possibilidade de redução dos juros, pelo menos em algumas operações, é implicitamente reconhecida em trabalho do Banco Central, “Juros e Spread Bancário no Brasil”, do seu Departamento de Estudos e Pesquisas, datado de outubro de 1999.
Segundo esse estudo, o fato de que as taxas de juros brasileiras estão entre as mais altas do mundo somente em parte se deve a condições macroeconômicas, porque “a diferença entre as taxas de juros básicas (de captação) e as taxas finais (custo ao tomador), a qual denominamos de “spread”, também tem sido expressiva” (p. 3). Assim, desde logo é necessário deixar assinalado que as taxas de juros praticadas não decorrem exclusivamente da política econômica do Estado.
Afirma ainda o estudo que as despesas administrativas consideradas para a fixação desse spread elevado, então em 22% sobre sua composição, são elevadas para os padrões internacionais, porque “refletem o superdimensionamento do setor, principalmente no que diz respeito ao número de agências, e a baixa alavancagem de operações de empréstimo no País.” (p. 9). Menciona, portanto, entre as causas, um problema de dimensionamento, item de ineficiência pelo qual paga o tomador do empréstimo.
A análise se torna mais rigorosa quando passa a tratar especificamente sobre o cheque especial, e afirma que o elevado spread não tem, a rigor, correspondência com o risco de crédito ou com os custos administrativos (pp. 11-2):
Esse elevado spread cobrado, a rigor, não tem correspondência com o risco de crédito ou com os custos administrativos. O acesso às operações de cheque especial normalmente é concedido apenas a clientes ditos especiais, com bom cadastro junto aos bancos, o que teoricamente afasta a hipótese de elevada inadimplência e da necessidade de grandes acréscimos a título de risco de crédito. Da mesma forma, com a informatização das operações bancárias, não se justificam grandes acréscimos às taxas em função de despesas administrativas. Afinal, os bancos normalmente já cobram tarifas quando dos contratos de abertura de crédito especial e renovação de cadastro.
Não se pode afirmar categoricamente, com base nos dados coletados, qual o valor exato da inadimplência e custo administrativo associado ao cheque especial. No entanto, é possível fazer uma estimativa da composição do spread cobrado pelos bancos, com base na inadimplência e custo administrativo da amostra de cias. financeiras, que provavelmente superestima o impacto real desses valores. Utilizando esses dados, observa-se que a parcela do lucro dos bancos corresponde a 2,24 pontos percentuais ao mês, o que significa 31% do spread.
A explicação para a elevada taxa de retorno desta atividade está, possivelmente, no fato dos bancos terem algum poder de mercado sobre os tomadores de recursos em cheque especial. Com efeito, face a uma cobrança de juros elevada, a melhor resposta do tomador seria trocar de banco, negociando uma taxa menor. Infelizmente, isso não é fácil. A obtenção de um limite de cheque especial é normalmente conseguida depois que o banco passa a conhecer as características de crédito do cliente, o que demanda um certo tempo. Ou seja, a troca de instituição financeira, para o tomador de recursos em cheque especial, envolve um grande custo.
Sabendo desse fato, a instituição financeira pode aproveitar-se disso, cobrando taxas de empréstimos elevadas. Como a composição do spread do produto “cheque especial” apresenta características distintas dos demais produtos, soluções específicas também são requeridas para reduzir esse elevado spread. Para tanto, conforme será descrito adiante, seria importante a adoção das seguintes medidas: i) aumento das informações disponíveis sobre as taxas de juros de cheque especial praticadas por cada instituição financeira; ii) aumento da concorrência no setor, permitindo maior entrada de instituições financeiras nesse mercado; e, iii) formação de um cadastro nacional de clientes de bancos, com informações positivas, como limites globais de cheque especial e de cartão de crédito. Esta última medida, em particular, permitirá reduzir o tempo necessário para que uma nova instituição conheça o histórico de crédito de um cliente, facilitando a troca de banco.
Veja-se, portanto, que, ao lado de razões macroeconômicas e de fatores objetivos, como a alta incidência tributária e a baixa alavancagem das operações de empréstimos, os juros elevados são conseqüência também da ineficiência operacional, mas, muito mais do que isso, do superdimensionamento da inadimplência e do custo administrativo e da alta lucratividade, representando esta 30,45% ao ano. Ademais, se efetivamente é dado peso excessivo à inadimplência e ao custo administrativo, isso significa que na verdade o lucro anual é bem superior a este percentual.
Em outro plano, é de se assinalar que o diagnóstico identifica no poder de mercado que os bancos têm sobre os tomadores de recursos em cheque especial a provável causa para a elevada taxa de retorno do cheque especial.
E, nesse ponto, voltamos ao Código de Defesa do Consumidor, porque não parecem incompatíveis os entendimentos de que, em matéria de juros bancários, prepondera a Lei 4.595/64, e os juros não são limitados, e de que, mesmo assim, o CDC pode ser utilizado para reduzir juros. Trata-se, talvez, de fazer uma inversão no raciocínio que parece hoje preponderar no STJ: ao invés de dizer-se “os contratos bancários se submetem ao CDC, mas os juros estão liberados”, diga-se “os juros estão liberados em contratos bancários, mas podem ser reduzidos por força do CDC”.
E esse entendimento se impõe até mesmo pelos vários exemplos trazidos pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar em seu voto, que demonstram situações que não deixam de ser corriqueiras e – aqui a importância de se ter presente o CDC e não tomar o próprio mercado bancário como parâmetro para verificar a existência de abuso – podem ocorrer a qualquer momento com quem, por exemplo, não consegue pagar o saldo devedor em conta corrente, porque aqui a média histórica se aproxima de 200% ao ano.
Da mesma forma, é necessário repensar a questão do ônus da prova, porquanto, ao que parece, e como mencionado na própria ementa, a decisão o impôs ao tomador do empréstimo: “Os juros remuneratórios contratados são aplicados, não demonstrada, efetivamente, a eventual abusividade.”
Esse entendimento ensejou crítica severa do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, em decisão posterior (RESP 466.979-RS, julgado em 22 de abril de 2003), na qual todavia decidiu da mesma forma, em acatamento à posição que se firmou:
O entendimento que hoje predomina na Segunda Seção é francamente favorável à cobrança dos juros de acordo com os índices fixados pelos bancos, sem outro limite senão a taxa média de mercado e sem possibilidade de sua revisão pelo juiz, salvo quando o mutuário comprovar que o banco está cobrando dele mais do que cobra de outro, em situação similar. Como dificilmente ocorrerá tal hipótese (e, caso ocorra, implica indevida transferência ao mutuário da carga da prova do abuso, a ser feita provavelmente em perícia de difícil e onerosa realização), o resultado prático daquele julgamento é a liberação dos juros, sejam remuneratórios, sejam moratórios, sem nenhum controle efetivo. Controle administrativo não existe, pois não se conhece limite imposto pela autoridade administrativa, e o controle judicial fica agora condicionado a uma prova irrealizável ou de difícil realização.
E, no entanto, é coerente tal atribuição do ônus da prova pelo STJ, em face do entendimento de que prepondera, em matéria de juros, a Lei 4.595 e também do de que não se pode desde logo presumir abusivo o que, afinal, foi objeto de contratação.
Porém, não parece que, sabedor o magistrado da análise do próprio Banco Central, que diz elevados os juros, e tendo à sua frente, por exemplo, aquele percentual de 200% ao ano, que a cada intervalo de pouco mais de dois anos acrescenta um zero à direita, decuplicando a dívida, não possa desde logo dizer que, dada a eloqüência dos números, impõe-se ao banco provar que não há abuso. Aliás, num caso desses, mesmo na improvável hipótese de não se constatar abuso por prova obtida nos autos, dificilmente se poderia admitir a cobrança de tais percentuais, dada a desproporcional onerosidade que deles resulta ao devedor.
A questão foi bem esclarecida pelo voto vencido do Ministro Ruy Rosado de Aguiar:
É certo que não cabe ao juiz interferir genericamente no mercado para estabelecer taxas, mas é seu dever intervir no contrato que está julgando, para reconhecer quando o princípio do equilíbrio contratual está violado, a fim de preservar a equivalência entre a prestação oferecida pelo financiador e a contraprestação que está sendo exigida do mutuário. É função dele aplicar o dispositivo legal que proíbe cláusulas potestativas; é função dele verificar se no modo de execução do contrato não há perda substancial de justiça, com imposição de obrigação exagerada ou desproporcional com a realidade econômica do contrato. Para isso, sequer necessita invocar o disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o sistema do nosso Direito Civil é suficiente para permitir a devida adequação.
Assim posta a questão para os juros do período de normalidade contratual, não é muito diferente a solução para o momento posterior ao vencimento. O acórdão reconhece a possibilidade de cobrança da comissão de permanência à taxa média de mercado, considerada adequada para substituir os juros remuneratórios de então, porque, oscilando os juros conforme as alterações que resultam da intervenção da autoridade monetária ou dos movimentos de mercado, não poderia permanecer ao longo do tempo uma taxa fixa.
Lembra o acórdão que o uso da comissão de permanência nas mesmas taxas do contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento é autorizado pelo Banco Central, conforme disciplina dada pela Resolução nº 1.129/86.
Além disso, pelo menos no voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, respondeu o STJ ao acórdão recorrido, que, como muitas decisões que dizem potestativa a comissão de permanência, afirmou sua nulidade “porque sobre sua aferição somente uma das partes exerce influência”, nos seguintes termos:
A Comissão de Permanência é aferida pelo Banco Central do Brasil com base na taxa média de juros praticada no mercado pelas instituições financeiras e bancárias que atuam no Brasil, ou seja, ela reflete a realidade desse mercado de acordo com o seu conjunto e não isoladamente, pelo que não é o banco mutuante que a impõe. E a taxa de juros, como consabido, deriva da política econômica do Estado, em que a taxa base, a SELIC, é determinada, por oferecimento aos bancos, pelo próprio Banco Central, o que por mais essa razão afasta, peremptoriamente, a possibilidade de incidência do art. 115 do Código Civil.
Porém, por três aspectos essa sustentação merece ressalvas. Primeiro, mesmo que não se questione que a Taxa SELIC representa o piso para os juros bancários no Brasil, há uma diferença abissal entre essa taxa e várias modalidades de juros hoje praticadas.
Em segundo lugar, e não obstante o teor da Resolução 1.129/86, já bem antiga, a Circular 2.957/99, com base na qual passaram a ser obtidas as informações que permitiram apurar de modo mais abrangente a taxa média de mercado, não veio com o propósito declarado de oferecer aos bancos um percentual que lhes autorizasse cobrar tais valores, mas é notável que tenha sido baixada apenas dois meses após o trabalho acima mencionado, que ao final propôs várias medidas, entre as quais uma, que diz respeito à transparência das operações bancárias, foi: “Especificamente sobre as operações de crédito, o BC deve emitir normativo solicitando informações diárias mais detalhadas às instituições financeiras, em termos de custos e prazos das principais operações.” (p. 25). Na mesma página 25, afirmou o trabalho que o Banco Central publicará a taxa média praticada por todos os bancos, com vista a uma maior concorrência no cheque especial. Portanto, essa publicação tem por objetivo antes informar o consumidor sobre a média das taxas publicadas, para lhe fornecer elementos que lhe permitam buscar taxas menores, do que retroalimentar as altas taxas, assim reconhecidas pelo próprio Banco Central.
Dessa forma, as taxas médias praticadas num contexto identificado pelo Banco Central como de pouca eficiência administrativa, com dados superestimados e não auferíveis sobre o custo administrativo e o montante da inadimplência, e a constatação de alta margem de lucro, acabam por ser consideradas legítimas em situação de inadimplência.
Em terceiro lugar – e novamente o estudo referido serve para demonstrar o contrário –, há uma ilusão na virtude regulatória do mercado, como apontada pelos economistas clássicos, que pode existir em situação de concorrência perfeita, mas não aqui. Se, nas condições aqui descritas, se tomar a taxa média praticada por Bradesco, Itaú e Unibanco, o resultado disso não será muito diferente do que se for tomada a taxa praticada individualmente pelo Bradesco, pelo Itaú e pelo Unibanco, e isso porque neste caso, à toda evidência, não é invisível a mão do mercado.
A questão foi novamente bem enfrentada pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no RESP 466.979-RS:
Todos sabemos que as taxas praticadas no Brasil chegam a resultados muitas vezes absolutamente inaceitáveis do ponto de vista ético. É certo que a Escola de Chicago prega a “interpretação econômica do contrato”, com absoluta submissão ao interesse do mercado, mas é inaceitável proibir ao juiz corrigir o evidente excesso presente no caso submetido a seu julgamento, apenas porque se trata de um abuso praticado massivamente contra todos.
As taxas de mercado podem ser aceitas para os negócios em geral, quando houver efetiva concorrência, adequadamente fiscalizada pelo Estado, além da possibilidade real de escolha, o que de nenhum modo acontece. Quais as opções e o poder de negociar as cláusulas de contrato bancário que se permitem ao nosso pequeno agricultor, ou ao microempresário?
Nesse plano, não parece despropositado lembrar que ano após ano os bancos têm apresentado lucratividade maior que os demais setores da economia, fato que não significa outra coisa que uma transferência de renda para as instituições financeiras. Por isso, e embora não seja papel do Judiciário intervir na economia, é criticável o entendimento de que o que resulta do mercado é insuscetível de controle judicial.
Se é pertinente o argumento de que as taxas de juros oscilam conforme as circunstâncias da conjuntura, e por isso não é recomendada a prefixação dos juros para o período de inadimplência, mas admitida a sua oscilação, autorizadora da utilização de comissão de permanência em taxa variável, melhor seria, então, que se retirasse do mercado, ou dos bancos, a possibilidade de sua fixação, e se buscasse para isso um critério alternativo. Aliás, isso não é difícil, porque, se a Taxa SELIC orienta o comportamento dos juros em todas as transações, se poderia prever, para a mora, a incidência de um índice proporcional a ela.
Assim, a taxa dita de mercado não tem a legitimidade que o acórdão pretende lhe conferir e, seja para a taxa praticada no período de normalidade contratual, seja para aquela praticada após o vencimento, é necessário que o magistrado analise com muita acuidade os índices praticados.
Por outro lado, é certo que não cabe ao STJ, porque vedado em sede de recurso especial, analisar provas – e a taxa de juros pode acabar se limitando à matéria de prova. Por isso, salvo venha a linha tomada nesse acórdão a se enrijecer e, dentre os votos majoritários, acabe por prevalecer aquele que considera abusivas somente as taxas superiores à média de mercado, contra o que considerou serem as taxas suscetíveis de análise com base no Código de Defesa do Consumidor, poderá, no futuro, vir a acontecer de nem ao menos haver o conhecimento de recursos que tenham por fim analisar a abusividade de determinada taxa.
Por esta razão, dois são os ensinamentos que devem ser retirados da decisão em comento: primeiro, exceto em circunstâncias muito peculiares, a limitação dos juros em 12% ao ano, mais do que não ter a chancela do Superior Tribunal de Justiça, pode, a depender da conjuntura, não encontrar qualquer fundamento na realidade econômica; segundo, a redução dos juros cobrados por bancos somente pode ocorrer com base em criteriosa análise da situação concreta e das condições em que se chega aos índices praticados, bem como dos resultados da sua aplicação.
Está ainda por se ver posta no STJ, para que sirva talvez de contraponto à decisão comentada, a análise de acórdão que, feita essa criteriosa análise, tenha reduzido juros demonstradamente excessivos a patamares inferiores aos praticados pelo mercado, e, em contrapartida, tenha fugido à tentação dos 12%. Da diferente modulação dos votos vencedores, parece haver a possibilidade de ser a questão vista com outros olhares
ÍNDICE
| Ponto 1 | Os juros legais no novo Código Civil e a Inaplicabilidade da Taxa SELIC ………………… | |
| Ponto 2 | Ainda sobre o artigo 406 do novo Código Civil e a SELIC | |
| Ponto 3 | Juros moratórios de 50%? | |
| Ponto 4 | Juros moratórios: 1% ao mês ou 1% ao ano? . | |
| Ponto 5 | A Tabela Price capitaliza os juros? | |
| Ponto 6 | A capitalização dos juros | |
| Ponto 7 | A prestação do Sistema Financeiro da Habitação: refutando um falso diagnóstico | |
| Ponto 8 | Financiamentos habitacionais: conseqüências negativas de uma decisão judicial | |
| Ponto 9 | Juros bancários: os paradoxos da ideologia | |
| Ponto 10 | Juros bancários: os paradoxos da política | |
| Ponto 11 | Juros bancários: os paradoxos da jurisprudência | |
| Ponto 12 | Comentários a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça |